Pensando uma cidade para todos Geral

Para o urbanista João Whitaker, as cidades devem investir em políticas públicas que beneficiem as populações excluídas das grandes intervenções urbanas
 Autor do livro “O mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano” (Vozes, 2007), o professor da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da USP, João Sette Whitaker Ferreira, esteve em Natal para proferir palestra em Seminário sobre Justiça Social e Direito à Cidade. Na oportunidade, o Nossa Ciência conversou com ele. Acompanhe a entrevista.
Autor do livro “O mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano” (Vozes, 2007), o professor da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da USP, João Sette Whitaker Ferreira, esteve em Natal para proferir palestra em Seminário sobre Justiça Social e Direito à Cidade. Na oportunidade, o Nossa Ciência conversou com ele. Acompanhe a entrevista.
Nossa Ciência: Em seu livro, o senhor afirma que a classificação de São Paulo como cidade global é uma manobra retórica. Poderia explicar?
João Whitaker: Eu discuto o conceito de cidade global, que foi ideologicamente hegemonizado no mundo do urbanismo a partir dos anos 1990 e da Olimpíada de Barcelona, por urbanistas catalães – Jordi Borja, Saskia Sassen ou pelo Manuel Castels. É uma cidade específica que eu estou criticando, porque se a gente entender cidade global como uma cidade que tem influência econômica para além das fronteiras nacionais, São Paulo, desde os anos 1950 já tinha essa característica, desde que ela ultrapassou o Rio de Janeiro como maior cidade brasileira e se tornou a principal cidade industrial da América Latina. O Milton Santos propõe que a cidade global é aquela caracterizada tanto pela riqueza quanto pela pobreza e justamente nesse confronto e nesse sentido eu poderia dizer que São Paulo é uma cidade global. O que eu estou querendo desmontar quando eu falo isso é um discurso ideológico que pretende vender uma receita que justifique a canalização de recursos públicos, que deveriam ser destinados aos problemas mais urgentes da cidade, que são problemas básicos nas cidades subdesenvolvidas como saneamento, transporte público, melhores escolas, pelo poder público para favorecer setores da cidade que tem interesse em promover uma suposta cidade global dentro do conceito de que a cidade precisa ser competitiva, se inserir num arquipélago econômico mundial, ser lugar de fluxos econômicos e eu mostrei no meu trabalho, que já é antigo, mas ainda é válido, que se a gente fosse pegar os critérios que alimentam essa teoria da cidade global, São Paulo não respondia a nenhum deles. São Paulo não é um dos maiores fluxos de informação econômicos ou de mercadoria do mundo; não tem a sede de empresas internacionais de maneira significativa; não tem uma bolsa de valores com significância global, do jeito que se esperaria. Então por que se diz tanto que São Paulo é uma cidade global neste conceito? Porque isso permitiu que ao longo de anos se canalizasse recursos públicos para se construir uma centralidade global. E o que uma centralidade global? Nada mais do que um bairro de altíssima renda do mercado imobiliário terciário, que queria construir prédios inteligentes, com fibras óticas, dizendo que aquilo era necessário para o crescimento da cidade. Então existe uma inversão daquilo que se pretende pra cidade e daquilo que é necessário pra cidade. Você tem uma inversão da lógica, ou seja o que é necessário para que a cidade se torne uma cidade melhor? é fazer investimentos básicos, democratizantes, que atendam a todas a população, inclusive a população segregada e a população mais pobre ou é investir milhões e fazer aquilo que é necessário pra ela ser denominada cidade global dentro do arquipélago financeiro internacional? O mito da cidade global foi criado não só para São Paulo mas para muitas cidades do mundo, que passaram a competir entre si naquilo que o urbanista norte americano, John Short, chamou de ‘wannabe world cities’, ou seja cidades que colocam a ideia de ser cidade global como a primeira pauta política das suas gestões. Então passou a ter um mercado do urbanismo que se criou em torno disso, inclusive, financiado pelo UN-Habitat. Até hoje, o presidente do UN-Habitat, que é ex-prefeito de Barcelona, alimenta muito essa ideia, de que se pode transformar a cidade, fazendo investimento do grande capital, para poder permitir fluxo do grande capital e ao mesmo tempo resolver as questões sociais com ‘best practice’, com pequenos exemplos pontuais que podem ser as muito bons e interessantes, mas que não são universalizantes, que atende a uma pequeníssima parcela da população. O grande problema é que na hora que se vai analisar a cidade de São Paulo com mais atenção, se vê que nem mesmo o discurso daquela centralidade global como alavanca para recursos internacionais é verdadeira. Quem capitaneia a produção imobiliária da cidade de São Paulo são os setores mais arcaicos e tradicionais da sociedade patrimonialista. São empresas locais, são empresas de até pequeno porte. Então, onde está o sentido desse discurso? É uma disputa interna na cidade para canalizar recursos de infra-estrutura pra promover o mercado imobiliário.
NC:Colocando como uma questão ideológica, o que se contrapõe ideologicamente a essa ideia de cidade global? O que os setores sociais progressistas poderiam contrapor a esse modelo?
JW:Já houve uma contraposição. Hoje esse modelo da cidade global perdeu força, ele já não é mais vendido da mesma forma, muito por causa da crise do capitalismo de 2009, mas também porque se percebeu que aquilo era balela, à medida que cidades que promoveram isso quebraram. Por exemplo, Bangkok, que tinha um setor impressionante e na crise imobiliária, quebrou tudo. Então começou a se perceber que esses centros terciários muito avançados na Cidade do México, em Santiago do Chile, em Buenos Aires, na verdade, são grandes operações imobiliárias terciárias, do setor de comércio e serviço. O que se contrapôs a isso é aquilo que os setores sociais sempre defenderam: a construção de metodologias de gestão da cidade que sejam participativas e que invertam a prioridade dos investimentos. É simplesmente voltar a atenção da cidade para os setores historicamente excluídos. Essa é a oposição à cidade global. Em vez de ficar investindo milhões e melhorar avenidas, fazer operações urbanas, colocar ponte estaiada, colocar fibra ótica num determinado bairro, achando que esse modelo norte-americano ou barcelonês vai ser capaz de alavancar alguma coisa, voltar ao básico: o Brasil precisa investir em saneamento básico, em transporte público, casas para as pessoas morarem com qualidade. São Coisas de um nível absolutamente rasteiro e básico de planejamento que são deixados para trás em nome desse discurso. O que se opõe a isso é uma volta, não tem nenhuma dificuldade metodológica, é muito mais uma tomada de consciência política, uma tomada de posição política por parte dos governantes do que deve transformado e quais são as prioridades que devem ser enfrentadas no urbanismo no Brasil.
NC:O que é o planejamento estratégico e porque o senhor faz uma crítica tão contundente a essa expressão?
JW:Planejamento estratégico foi um termo da gestão empresarial, importado para o meio urbanístico, pelos urbanistas que se formaram na lógica da Olimpíada e das reformas urbanas de Barcelona. Ele foi importado justamente com esse discurso e essa justificativa de que o setor empresarial funciona, que é eficiente e que, portanto, o planejamento do setor empresarial seria o ideal para o planejamento urbano, enquanto são coisas completamente diferentes. Uma empresa tem uma lógica de funcionamento, objetivos e prioridades que são privados, particulares, que visam o lucro, que visam soluções particulares das empresas e que não tem nada a ver com a lógica da cidade, que deve ser norteada pelo interesse público acima de tudo. Foi construído um vocabulário, um léxico de urbanismo baseado na gestão empresarial, que supostamente deveria ser aplicado à cidade e ele trazia um urbanismo de privilégios, o planejamento estratégico diz que a cidade tem que se equipar para poder permitir que os empresários e empresas atuem de maneira adequada, que os grandes gestores, homens de negócios possam viver com conforto em bairros com equipamentos. Está escrito no planejamento estratégico que essas são as formas de alavancar a urbanização, a cidade global etc. O planejamento estratégico tem uma lógica extremamente excludente, tem uma lógica de estratégias de ganhos, que é o que uma empresa costuma fazer, então ele é absolutamente inadequado, mas foi transportado como uma solução, inclusive no encontro da UN-Habitat em 1996, em Istambul, onde se produziram vários textos que traziam o planejamento estratégico como uma grande solução para as cidades. A partir do planejamento estratégico se desenvolveram soluções que são muito mais voltadas ou para o mercado ou para uma espécie de otimização de gestão pública, que não é realmente estruturadora e que é uma lógica que foi muito conveniente para as instituições públicas internacionais de promover um planejamento direcionado, que vai se apoiar na realização do que são consideradas as melhores práticas e que vão ser vendidas nas conferências internacionais como boas realizações de governo, como boas realizações públicas, mas que são apenas pequenos ensaios, restritos, muito pouco generalizado. Um exemplo, fala-se muito da urbanização de Medelin, como sendo um grande exemplo e realmente tem algumas coisas muito boas, como o teleférico, que foi trazido para o Brasil, mas dentre essas práticas incríveis tem as escadas rolantes que eles põem nas favelas, quando você vai lá, você vê que realmente é uma solução muito boa, que foi financiada pelo Banco Mundial, mas tem uma escada rolante, numa favela, num bairro que você vai, visita e vai embora. Se fosse uma solução, teria que ter mil escadas rolantes. Realmente teria sido uma solução se todas as favelas tivessem escadas rolantes para permitir chegar lá em cima, mas isso não é verdade! É uma prática, que foi elogiadíssima, que permitiu milhares de publicações, que se fez muito debate, foi vendida para o mundo como uma prática incrível e encerramos aí, estamos todos satisfeitos. A lógica do planejamento estratégico permite esse tipo de falácia, que não é o que se deseja para enfrentar os problemas da cidade.
NC:As administrações municipais brasileiras de perfil mais progressista tem deixado importantes e positivas marcas nas cidades?
JW:A situação de desigualdade, segregação e injustiça espacial resultantes de um processo perverso de urbanização desigual no país é tão grave que qualquer administração que minimamente se debruce sobre o enfrentamento dessa questão – o que não é de fato uma prioridade política na sociedade brasileira – irá promover grandes melhorias. Isso não significa que prefeituras progressistas irão mudar as estruturas da desigualdade urbana, pois o próprio Estado no Brasil foi constituído com outros fins, e o desafio para as gestões democráticas é enorme e começa em enfrentar a necessária reestruturação da própria máquina pública para esse novo fim, o que não é tarefa fácil. Significa uma mudança nas lógicas políticas, marcadas pelo clientelismo, pelas soluções imediatistas de cunho puramente eleitoreiro, etc. Ainda assim, quando ocorrem, destacam-se diante do desastre urbano que vivemos, e ao promover políticas participativas, priorizar a questão da moradia, da urbanização das áreas precárias, etc., com certeza promovem mudanças que deixam marcas por apontar, enfim, um caminho para uma realidade urbana mais democrática.
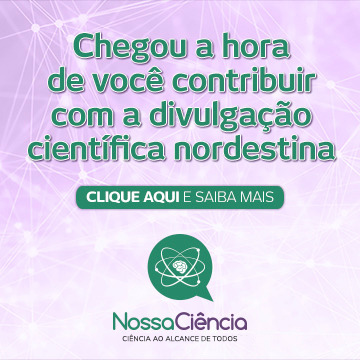







Deixe um comentário