Sob o sol da Maré: Marielle Franco, mídia negra e a luta antirracista Diversidades
 Mariele Franco ( Foto retirada de anistia.org.br)
Mariele Franco ( Foto retirada de anistia.org.br)
Inspiradas pela luta de Marielle, precisamos entender que nosso papel não está posto: ele é construído
(Por Alice Andrade)
Marielle, ausente.
Durante os últimos dois anos, ouvimos o oposto disso: Marielle, presente. No entanto, às vezes precisamos deixar a dor doer. A dor e a indignação também são instrumentos de transformação. Marielle está ausente, mesmo que sua presença ecoe através de nós. Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, não se escuta mais sua voz que representava o povo negro e pobre. Na rotina de Mônica, ela não pode mais desejar um bom dia. Para o cansaço de Luyara, ela não pode mais ser colo. Ela não pode pedir a benção à Marinete. Marielle não pode atender o telefone quando Antônio ligar. Anielle não pode mais contar-lhe como foi seu dia. Seu legado foi e é constantemente multiplicado, mas todo mês de março, no dia 14, nossos olhos nublam ao lembrarmos: Marielle foi assassinada por ser quem era.
Saber que Marielle está ausente é primordial para fazê-la presente. É a mola propulsora para que o luto seja transformado em luta. Uma mulher negra, intelectual, mãe, socióloga, bissexual, periférica, uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, que passou por diversas tentativas de silenciamento, mas lembrava: “não serei interrompida”.
Embora seu coração não possa bater e sua garganta não possa gritar, ela nos ensinou que “as rosas da resistência nascem do asfalto”. Em cada mulher negra que precisa resistir para existir e que luta para mudar a história única, nos termos de Chimamanda Ngozi Adichie, Marielle ainda existe. Marielle está presente em todas as Manus, Anas Paulas, Anas Claras, Lidianes, Divaneides, Julietes, Allynes, Beatrizes, Renatas, Lívias, Rosys, Stephanys, Rebecas, Carmens, Denises.
Marielle é parte do povo que ontem foi acorrentado e hoje habita os morros marginalizados. Sua causa era o antirracismo, o antimachismo, o antisexismo. Marielle defendia os direitos humanos, até mesmo o dos humanos que lhe roubaram a vida física. Mulheres como Marielle não são aceitas pelos donos do poder. Na tentativa de abalar as estruturas e quebrar a subalternização que historicamente está posta, são incômodos. É por isso que nós, cotidianamente inspiradas pela luta de Marielle, precisamos entender que nosso papel não está posto. Ele é construído – e nós somos protagonistas nessa construção.

Alice Andrade (Foto: Yargo Martins)
Se as leis não nos abarcam, vamos ocupar a política. Se as epistemologias nos subalternizam, criemos nossas próprias epistemologias. Se a mídia não nos representa, vamos transformar a mídia. Se o racismo rouba nossas identidades, tenhamos práticas antirracistas.
E lembremos: o racismo que estrutura nossa sociedade opera também nas sutilezas. Por isso é preciso atentar-se para o fato de que a característica estrutural não pode dar lugar ao conformismo e à naturalização. Não podemos nos acostumar com ele e, ainda menos, reproduzi-lo, mesmo que seja calando-se diante de uma fala racista. O silêncio também produz opressões. Ter nascido em um país estruturalmente racista não é passaporte para disseminá-lo sem cautela. Com o professor Sílvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, da coleção Feminismos Plurais, aprendi que: “Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas. Pelo contrário: entender que o racismo é estrutural, e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas” (ALMEIDA, 2019, p.51).
O racismo é uma das bases da hegemonia e atravessa nossas vidas até mesmo nas situações mais cotidianas. Por exemplo, quando se diz: “amor não tem cor”, há aí uma ideia equivocada. É preciso levar em consideração que o “gostar” e o “não gostar” são percepções socialmente construídas. Como a lapidação do imaginário social, em especial no contexto brasileiro, é eurocêntrica, as pessoas costumam considerar como bom e belo características biologicamente eugênicas, como o cabelo liso, a pele clara e o nariz fino. Portanto, muitas vezes o amor tem cor sim: a branca. Já a cor negra, com muito “esforço” de aceitação por parte da branquitude, é no máximo “da cor do pecado”.
A sutileza do racismo também está em olhares, expressões e atitudes que invisibilizam e destituem pessoas do direito de serem quem são. “Existem pessoas mais qualificadas que você para ministrarem essa palestra”, disse o professor universitário à estudante negra que ousou pensar que poderia falar e ser ouvida. “Ao sair, lembre-se de não deixar louça suja na sala”, finalizou, deixando-lhe apenas uma opção de existência, aquela há séculos reservada para ela e suas ancestrais pela história branca: a servidão.
E de onde vêm essas e outras ideias que subalternizam os corpos negros?
Ao longo do tempo, a hegemonia colonizadora criou ou se apropriou de instrumentos para se manter. A mídia é um deles. Embora haja outras ferramentas, é da mídia que vamos falar a partir de agora. Além da hipersexualização, a mulher negra é aprisionada em imagens como a da escrava, submissa, de origem desconhecida, a mãezona ou barraqueira; já o homem negro é enquadrado no perfil sexualizado, bandido, malandro e/ou malvado, por exemplo. Esses são alguns estereótipos disseminados por anos através de produtos midiáticos. Essas imagens fixas criadas sobre a população preta e parda gera sofrimento psíquico, constrangimento, queda da autoestima, emudecimento e também mortes.
No Brasil, estatisticamente a população negra é a que mais morre. O Atlas da Violência, divulgado em junho de 2019, mostra que o contraste entre brancos e negros existe e segue aumentando mesmo na contemporaneidade. Das vítimas de assassinato, 75,5% eram pessoas negras.
Segundo Abdias Nascimento, no livro O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado, genocídio é qualquer modo de extermínio de um povo, seja físico, social ou cultural. Falar sobre genocídio da população negra é entender que antes de quaisquer lutas por oportunidades, direitos ou representatividade, há pessoas neste país que precisam lutar pela vida, pela sobrevivência. Marielle foi uma delas.
O que nós, da mídia, podemos fazer?
 Na minha pesquisa de doutorado, sob orientação da professora Socorro Veloso, tenho estudado a mídia negra no Brasil. Temos observado que entre as vozes que ecoam nesse sentido, existe uma coletividade se constituindo nos espaços e vácuos deixados pelo poder público e também pela mídia hegemônica. A mídia negra é um conjunto de iniciativas jornalísticas, produzidas por e para o povo negro, que (co)move pessoas na construção de uma narrativa antirracista e não-colonial sobre o povo negro. Embora ainda haja outros resultados e assuntos de análise que serão desenvolvidos ao longo da tese, desde já apontamos alguns pontos que podem ser desenvolvidos em prol da construção de uma comunicação antirracista:
Na minha pesquisa de doutorado, sob orientação da professora Socorro Veloso, tenho estudado a mídia negra no Brasil. Temos observado que entre as vozes que ecoam nesse sentido, existe uma coletividade se constituindo nos espaços e vácuos deixados pelo poder público e também pela mídia hegemônica. A mídia negra é um conjunto de iniciativas jornalísticas, produzidas por e para o povo negro, que (co)move pessoas na construção de uma narrativa antirracista e não-colonial sobre o povo negro. Embora ainda haja outros resultados e assuntos de análise que serão desenvolvidos ao longo da tese, desde já apontamos alguns pontos que podem ser desenvolvidos em prol da construção de uma comunicação antirracista:
Vamos ler mulheres negras. Homens negros também. Mulheres e homens indígenas, autores/as LGBTQIA+, integrantes de movimentos sociais e pessoas da periferia – onde a resistência é vivida na cotidianidade – pois a luta antirracista também passa pela diversidade.
Acreditemos no poder transformador da literatura; leiamos Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Jarid Arraes. Busquemos pautas racializadas e informativas sobre o racismo, a farsa da democracia racial e a importância das cotas, por exemplo. Questionemos as narrativas hegemônicas desenvolvidas sobre nós.
Tenhamos cuidado com nossa linguagem, pois as palavras também são poderosos instrumentos de domínio e subalternização.
Publicitários, já pensaram em uma campanha apenas com pessoas negras, deixando-as ocuparem seus espaços de protagonismo, sem subalternizá-las ou coloca-las apenas como “exceção” ou por respeito a uma ideia de “representatividade”? Parece estranho? Não é estranho. O branco não é universal (RIBEIRO, 2017).
Ângela Davis disse que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Nós, comunicadores, precisamos construir práticas midiáticas que engendrem essa luta. Lélia González disse que o negro está na lata de lixo da sociedade brasileira, e a partir do momento em que assumimos o risco do falar, fiquem sabendo: “o lixo vai falar e numa boa” (GONZÁLEZ, 1983, p. 225).
Quando o “lixo” deixa esse lugar e se assume enquanto sujeito central na produção de práticas emancipadoras, toda a sociedade caminha de forma mais justa. Gostaria de convidá-los a conhecer experiências como o Alma Preta, Correio Nagô, Revista Afirmativa, Notícia Preta e Portal Geledés, que são fundamentais para a justiça social, a busca por democracia e a luta antirracista. Esses grupos nos fazem crer no verbo “esperançar”. A esperança é o que torna fértil a terra onde foram plantadas as sementes de Marielle para que seu legado possa multiplicar raízes.
E por falar em terra, da terra muito nasce. As árvores, as flores, as plantas, o alimento. Mas também para a terra tudo retorna. Nas sincronicidades paradoxais do universo, a terra é o começo e o fim da vida. Que o sol da Maré brilhe sobre a terra onde germina cada semente de mulher negra que insurge e luta. Que a narrativa da vida de Marielle siga nos embalando em uma narrativa de resistência.
Referências
ALMEIDA, Sílvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: SILVA, L. A. et al. Movimentos sociais urbanos, minorias e outros estudos. Ciências Sociais Hoje, Brasília, ANPOCS n. 2, p. 223-244, 1983.
NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
RIBEIRO, Djamila. O que é: lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento, 2017.
TEXTOS CONSULTADOS
RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Cia das Letras, 2019.
ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
 A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Invisibilidade das mulheres indígenas
“Epistemologias Subalternas e Comunicação – desCom, um grupo de estudos e projeto de pesquisa do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
Alice Andrade
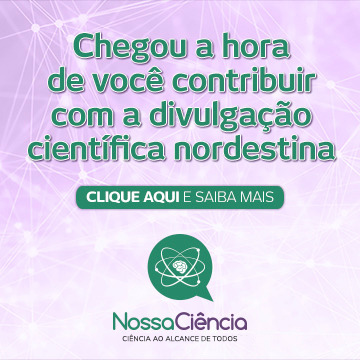







Deixe um comentário