O compromisso do encontro com o colonial Diversidades
 As pensadoras Djamila Ribeiro, Carla Akotirene, Sueli Carneiro, Chimamanda Ngozi Adichie e Andrielle Mendes. Foto: Divulgação.
As pensadoras Djamila Ribeiro, Carla Akotirene, Sueli Carneiro, Chimamanda Ngozi Adichie e Andrielle Mendes. Foto: Divulgação.
Dialogando com pensadoras negras e de origem indígena, a pesquisadora Alice Andrade reflete sobre a tensão política entre reprodução e ruptura do colonial que há em nós
Na coluna desta semana, a pesquisadora Alice Andrade rememora seus encontros com o colonial, isto é, com a matriz eurocêntrica de hierarquização de corpos e de saberes que, naturalizada, atravessa as existências e molda as subjetividades dos grupos subalternizados no Brasil e em toda a América Latina. Em um instigante diálogo com pensadoras negras e de origem indígena, a autora reflete – com as raízes solidamente fincadas em seu próprio corpo e suas vivências – sobre a tensão política entre reprodução e ruptura do colonial que há em nós e, na semana em que se discute a consciência negra por ocasião do dia 20 de novembro, traças caminhos contra-coloniais a percorrer na companhia daquelas e daqueles que sentem na pele todo dia a marca das correntes visíveis e invisíveis da colonialidade.

Alice Andrade. Foto: Yargo Martins
O compromisso do encontro com o colonial
Por Alice Andrade
Um homem caminhava por uma estrada escura, deserta e fria. Já era tarde de noite. A apreensão era tão grande quanto a pressa. Até que, para intensificar a tremedeira nas suas pernas, percebeu que alguém o seguia. Lembrou que por aqueles caminhos os assaltos não eram raros. Perguntou:
– Olá? Quem está aí?
Não recebeu resposta. Resolveu apressar o passo, até que já estava correndo. Seu seguidor também. Com os pés em brasa de tanto correr e o coração exausto de tanto pular no peito, passou diante de um poste aceso. Expirando o último sopro de coragem que o acompanhava, olhou para trás. O medo foi-se. Percebeu que seu seguidor era apenas um burrinho abandonado, acostumado a acompanhar viajantes.
Decidi começar este texto com essa história recuperada de minha memória. Não conheço a autoria. No entanto, quando criança, adorava ouvi-la na voz do meu pai antes de dormir. Fazia parte de uma série de histórias espíritas que falavam sobre a morte. A lição do microconto era sobre o medo que os seres humanos sentem do desconhecido. Esse temor é real. Entretanto, em algumas situações da nossa vida, o medo do conhecido, dos sentimentos que permeiam nossas entranhas e habitam o mundo também se concretiza. É muito real também.
Há alguns meses fui ao aniversário do filho de um amigo da minha mãe. Ela parou de estudar ao ficar grávida de mim, no final do ensino médio, e retornou quando eu tinha 4 anos para o ensino superior. Em um grupo de 6 amigas, ela era a única com uma filha, o que a fazia me levar para assistir aulas ou fazer trabalhos. Ao reencontrar parte desse grupo, uma delas me disse:
– Você lembra que me chamava de princesa só porque eu era a mais branca do grupo?
Nesse momento, o constrangimento me foi certo. Como eu, pesquisadora da contra-colonialidade e de questões étnico-raciais, pensava assim? Até que decidi me perdoar, pois aos 4 anos, mesmo enquanto criança negra, fui criada em uma sociedade e em um núcleo familiar cheio de marcas da colonialidade.
Quando essas duas histórias ecoaram em minha mente, me inspiraram a refletir e escrever estas palavras para falar do que tenho chamado de encontro com o colonial. Este, que parece ser tão pequeno e inofensivo, às vezes cresce e pode nos dominar. Por não ser natural, podemos mudá-lo, moldá-lo, transformá-lo conforme vivenciamos as novas experiências. Contudo, por ser naturalizado, não podemos escapar desse encontro de vez em quando. Será que estar na presença dele é de todo ruim, afinal?
De um modo geral, os encontros carregam consigo a beleza da partilha, das memórias, da nostalgia. Encontrar e reencontrar são duas faces de uma moeda que pode ser agradabilíssima e encantadora. No entanto, ao mesmo tempo em que é reflexão, os encontros da vida também podem ser ação. Este, especificamente, é urgente em nós e pode nos co-mover a muitas transformações.
O encontro com o colonial significa assumirmos o fato de que nascemos, crescemos e afundamos as raízes em um solo sociocultural marcado pelas injustiças da opressão e das diversas formas de violência, como o racismo, o machismo, o sexismo, a misoginia, a LGBTQIAfobia, entre outras. Portanto, estamos passíveis de reproduzir – ou termos reproduzido – algum comportamento ou discurso enquadrado nessas violações em algum momento da vida – o que não é correto, nem se justifica, mas devemos ser autovigilantes para que esses momentos não mais aconteçam.
Com Carla Akotirene, doutoranda em Estudos Interdisciplinares de Gênero, Mulheres e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), aprendi, entre outros pontos, que devemos enfrentar os padrões coloniais de pensamento. Ao sermos atravessados pela leitura de mulheres negras, indígenas, dos conhecimentos tradicionais, populares, o saber da própria ancestralidade, dos orixás, do Grande Espírito, da Abya Yala, da intuição – entre tantos outros semeados no solo de povos culturalmente diversos e tantas vezes subalternizados – a travessia se torna mais justa e democrática. O encontro com o colonial exige mudanças de postura, como a luta contra as várias formas de opressão, violência e necropolítica.
Desde a diáspora, o mar ficou mais salgado com nosso sangue, suor e lágrimas. Ficou mais denso com nossas peles se desfazendo no oceano de injustiças que afogou até mesmo quem chegava em terra firme. Embora o apagamento intelectual, cultural, político e social dos povos subalternizados passe por uma constante tentativa de normalização e hierarquização por parte do poder hegemônico, é preciso um esforço de nossa parte para exercermos um contra-movimento de ruptura com esses padrões cruéis.
Os privilégios alicerçados pela colonialidade fazem com que todas as pessoas que ocupam esses espaços sejam beneficiários, mesmo que nem todos sejam signatários. Sueli Carneiro fala disso quando reflete sobre a questão étnica de raça. Um exemplo é uma pessoa branca, que por mais que seja parte da luta antirracista, em algum momento (ou em vários momentos) da sua vida se beneficia por essa branquitude. Ou ao menos a cor não é um problema na vida dela.
Enquanto mulher negra, já tive inúmeros encontros com o colonial que existe dentro de mim. Já fui, todavia, alvo do despertar do colonial alheio, sofrendo com discursos misóginos e racistas, intencionais ou não. Se a violência desse procedimento é danosa para nós mesmos, pois nos causa constrangimento, pode ser dolorosa, mortal e perigosa para quem é vítima desse tipo de atos e discursos.
Há alguns dias, uma mulher branca, doutora e comumente gentil, se aproximou de mim, tocou nos meus cachos e disse: “você tem um cabelo bem interessante”. O colonial existe nas crueldades, mas também mora nas sutilezas.
Com a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie aprendi que o olhar sobre uma única perspectiva pode produzir injustiças e roubar humanidades. A partir do momento em que buscamos o envolvimento direto com compromissos contra-coloniais, caminhamos rumo à ruptura com o pacto de dominação que enraíza nossa sociedade há mais de 500 anos. Para que a conscientização aconteça através do encontro com o colonial que nos habita, é preciso uma sensibilização em muitos níveis. É um esforço nos desvincularmos dos padrões socioepistêmicos ocidentais e eurocêntricos para percebermos a potência dos diversos modos de saber e de produção científica, bem como termos contato e proximidade com outros modos de vida diferentes dos que conhecemos.
Em palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 14 de novembro de 2019, o mestre e intelectual negro quilombola Antônio Bispo dos Santos alertou: “o colonial nunca tira férias”. Portanto, encontra-lo, ao longo da nossa vida, é um processo inevitável – e eu diria, ainda, necessário. Enfrentá-lo, todavia, é um dever que assumimos quando decidimos não mais retroalimentar um sistema criador de fossos de desigualdades.
É por isso que há algo fundamental a se destacar nessa discussão: o encontro com o colonial não é um processo que contempla as pessoas que têm os preconceitos e as violências como convicção. Ou seja, não se trata de romantizar os opressores e nem de solicitar tolerância com o intolerante. Trata-se, em vez disso, de uma autorreflexão a partir do locus enunciativo das pessoas que já são comprometidas com o enfrentamento às diversas formas de opressão, mas que, algumas vezes, se veem imersas em uma raiz estrutural de dominação e colonialidade. É um compromisso com a autovigilância em prol da justiça social, respeito à diversidade, transgressão epistemológica e transformação social. O encontro com o colonial é uma etapa rumo à justiça social e epistêmica do mundo, mas não deve se limitar a isso.
Evoco os ensinamentos da pesquisadora nordestina e doutoranda em Estudos da Mídia (UFRN), Andrielle Mendes, quando me disse: nós devemos resistir da forma que podemos e de onde estamos. Isso significa que todas e todos, em seus cotidianos e lógicas particulares, podemos fazer algo para contribuir com a construção de novas narrativas, atitudes e movimentos que visem alcançar práticas sociais mais emancipatórias e plurais. Não é fácil, mas é possível assumirmos esse encontro e nos reposicionarmos frente à lógica de dominação cruel, racista, preconceituosa e autoritária que insiste em seguir sendo um molde social.
Por estarmos na semana da consciência negra, cujo dia é 20 de novembro, não é possível pensar no encontro com o colonial sem olhar a questão com as lentes da negritude que me toma enquanto ser biológico, social e político. Esse dia foi escolhido em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, líder negro que lutou pela libertação do povo africano e afrobrasileiro escravizado aqui no Brasil. Simbolizar essa ocasião é uma demanda dos movimentos sociais negros, enquanto uma data comemorativa à resistência dos povos escravizados por mais de três séculos. Significa, entre outras questões, a luta contra a opressão, a dominação, o genocídio e o racismo.
Falar de consciência negra é falar, na verdade, sobre reconhecimento da cultura, da história e da ancestralidade do povo negro na nossa sociedade. Embora essas lutas aconteçam aqui no Brasil desde a diáspora negra como forma de resistência, existência e reexistência, o dia 20 de novembro pode ser entendido como uma data em que todos nós devemos, obrigatoriamente, refletir e autoavaliar a estrutura tantas vezes racista e opressora que permeia nosso contexto social. O dia da consciência negra pode ser entendido também como um momento de autoafirmação e compreensão do que nos caracteriza enquanto sujeitos negros. Portanto, consciência negra é individualidade, mas também é alteridade e de empatia.
É preciso criar políticas de valorização da cultura e das vidas dos povos negros. O encontro com o colonial é um pequeno recorte diante da imensidão que podemos desenvolver para contribuir com esse debate-ação que nos move, pois conforme a filósofa negra Djamila Ribeiro, no livro Quem tem medo do feminismo negro?, a defesa das pautas antirracistas é fundamental se quisermos pensar em um novo projeto social para o país. Por isso, nós, enquanto pessoas negras, seguimos na luta para ocupar espaços e combater as diversas violências e opressões causadas pela colonização do pensamento e pelo racismo estrutural.
Encontrar o colonial é um termo simbólico que significa, na prática, um exercício que é singular à mesma medida que é plural. É muito particular, mas pode ser coletivizado. Estar na companhia de pessoas que também são empenhadas com esses enfrentamentos é fortalecedor e construtivo. É por essas razões que as discussões aqui apresentadas envolvem um processo doloroso de autoconhecimento, auto-observação e autocrítica. Não é uma tarefa rápida, pois significa a quebra de paradigmas que construímos – ou que nos fizeram construir – por toda uma vida. Mas é nossa obrigação política, ética, epistemológica e humana tomarmos esse dever enquanto projeto pessoal. Afinal, não há reconstrução sem antes destruirmos algo solidamente construído.
Para que os encontros com o colonial sejam cada vez menos frequentes, abandonemos a indiferença diante da colonialidade e das injustiças e assumamos o compromisso de uma transformação que parte, principalmente, de nós mesmos. Dessa forma, ao caminharmos pela escura, deserta e fria jornada do autoconhecimento – como a narrada no início deste texto – veremos que não estamos sozinhos/as.
 A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Metodologias precárias para a pesquisa em gênero e sexualidade
Antonino Condorelli é Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
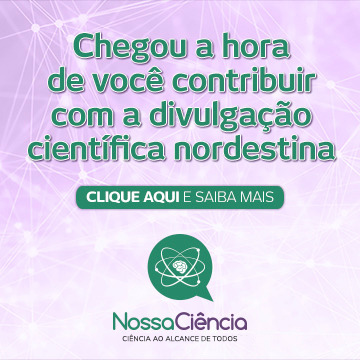







Deixe um comentário