Narrar é preciso: entre a resistência e a reexistência Diversidades

Relato sobre as violências simbólicas e o caráter sexista, racista e classista que existe nos espaços acadêmicos
Na coluna desta semana trago um artigo de Andrielle Mendes, doutoranda em Estudos da Mídia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que relata as violências simbólicas e o caráter sexista, racista e classista que impregna os espaços acadêmicos, por meio de uma escrita que flui das feridas, as lutas e os aprendizados de sua própria existência. Uma existência cuja voz e cujos sonhos – como os de suas ancestrais e de milhões de mulheres não-brancas e periféricas – tantas vezes tentaram calar, podar e subjugar, mas que não aceitou esse destino e, com seu exemplo e suas palavras, inspira tantas e tantos outros a descobrirem sua potência e sua criatividade, se reapropriarem de sua própria história e reexistir.
Narrar é preciso: entre a resistência e a reexistência
Por Andrielle Mendes
O mote para este artigo é a obra da indiana Gayatri Spivak, que, na década de 1980 publicou o ensaio Pode o subalterno falar? Subalterno, para Gayatri, é todo aquele e aquela cuja voz não pode ser ouvida; aquele, aquela que está nas camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.
Boaventura de Sousa Santos, que disseminou termos como epistemologias do Sul, ecologia dos saberes e epistemícidio, pergunta se é possível ver o que é o subalterno sem olhar a relação de subalternidade. Se é possível ver o subalterno para além de sua subalternidade. Angela Davis e Djamila Ribeiro dizem que não. Não existem subalternos. Existem sujeitos historicamente subalternizados; sujeitos que foram subjugados, marginalizados, submetidos. O termo adequado não seria subalternidade, mas subalternização, pois a subalternidade não é uma condição inerente, inata, é resultado de uma ação.
Olhar com essas lentes é interessante, porque se você apaga a ação, se você transforma subalternizados em subalternos, você apaga o ato dos subalternizadores. Você apaga quem obrigou o outro a usar a máscara do silêncio, um instrumento a serviço do colonialismo, cujo objetivo era silenciar os outros, segundo Grada Kilomba. Penso que caberia reformular então o título do livro de Gayatri Spivak para: Consegue o subalternizado ser escutado?

Andrielle Mendes
Nós, pesquisadores e pesquisadoras, temos um péssimo hábito. Costumamos dizer que queremos dar voz a determinados indivíduos e grupos. A questão é que esses indivíduos e grupos têm voz e muitos colocam a sua voz à serviço da contestação de discursos dominantes, que reproduzem discriminações e produzem morte intelectual, moral e física.
Consegue o subalternizado ser escutado? Eu suspeito que não. E digo mais: tem gente que não só não escuta o subalternizado, como subalterniza os sujeitos que falam. E eu não me refiro só aos pesquisadores que estudam subalternidade e subalternizam as pessoas não acadêmicas; eu me refiro também aos pesquisadores que estudam subalternidade e subalternizam os pesquisadores que estudam subalternização.
Nesses casos específicos o subalternizado até pode falar, mas não consegue ser ouvido. É silenciado, apagado, interrompido. Para terminar uma frase, precisa, às vezes, falar mais alto. Eu já fiz isso. Para não ser interrompida, ousei falar mais alto para conseguir concluir uma frase. Depois ouvi que as feministas são raivosas. Eu não me considero raivosa, mas se, para ser escutada, eu tiver que falar mais alto, falarei.
Ouvi de uma amiga empregada doméstica dia desses: “antes de minha filha entrar na universidade, eu achava que a faculdade era o paraíso. Depois que ela entrou, ela disse que não é”. E realmente, para muitas pessoas, não é. A universidade poderia ser comparada, inclusive, ao inferno de Calvino, segundo o qual, o inferno dos vivos, se existir, não é algo que ainda vai acontecer, mas é algo que aqui está, que acontece nas relações entre as pessoas.
Veja o número de estudantes de pós-graduação que desistem do doutorado, abrem mão do mestrado, abrem mão de viver para não sofrer o que sofrem dentro destes muros. Não é a instituição que se torna um inferno para os vivos. São algumas relações que acontecem dentro desses muros. Não se enganem: tem gente aqui aprendendo sobre subalternização, sobre epistemicídio, sobre opressão, na pele, não só nos livros. O nosso segredo de sobrevivência é fazer algo que Calvino já elaborou: perceber quem não é inferno, e se unir a ele, e abrir espaço. Não consegue ser escutado? Procure alguém ou algum grupo que o escute.
Às vezes, é preciso olhos novos para enxergar o poder simbólico onde ele menos se deixa ver, onde está camuflado sob a capa do hábito ou, pior, da naturalização. O alerta é de Pierre Bourdieu, que, inclusive, já havia escrito sobre a dominação masculina. E por falar em dominação masculina, não custa lembrar que a universidade foi desenhada por homens, ricos e brancos para homens, ricos e brancos. Ela não foi desenhada para nós mulheres, não-brancas e periféricas.
Eu serei a segunda doutora da minha família. A primeira é minha irmã, que começou a trabalhar aos 15 anos, para ajudar a pagar a mensalidade da minha escola. Na minha casa, a gente todo dia tinha que decidir se usava o dinheiro para me manter numa escola particular ou para comprar mais comida. Meus pais e irmãos sempre votavam pela primeira opção. Minha mãe é dona de casa, minha avó foi dona de casa, minha bisavó era dona de casa. O ciclo de servidão doméstica foi quebrado, a base de muitas contenções e cortes, apenas na minha geração.
O lugar do subalternizado não é só um lugar de marginalização, é um lugar de potência, de resistência, de criatividade e reexistência.
Muitas mulheres abriram mão de seus sonhos ou de seus recursos para que eu acumulasse recursos para não abrir mão dos meus sonhos. Para todas elas, a universidade era o meu paraíso, a minha única oportunidade de mudar a minha história e a das minhas ancestrais, contadoras de histórias que nunca enxergaram valor nas próprias histórias, contidas e não contadas. O sonho de minha mãe era ser escritora, poetisa, jornalista, dançarina, artista circense, cantora do rádio. Mas minha mãe, ao casar-se e ter filhos, foi levada a abandonar os estudos na sexta série. Alguém conhece uma história parecida?
Penso que os nossos genes sempre querem levar adiante a próxima geração. E os de minha mãe pareciam decididos a me levar mais além de onde ela conseguiu ir. Me alfabetizou em casa, ensinou minhas tarefas até onde conseguiu, custeou a minha educação e não me deixou namorar até eu fazer o vestibular, porque queria que eu entrasse para a universidade. Obviamente, eu dava o meu jeito.
Só na universidade, ao ler sobre a violência simbólica praticada contra as mulheres, pude ver a minha mãe como vítima da própria história. E pude também perceber que existe um custo emocional alto para ocupar os lugares que não foram desenhados para nós. A violência simbólica contra a mulher ainda permeia muitos espaços, sobretudo, aqueles que são vistos como “desconstruídos” e “progressistas”, mas que continuam reproduzindo as construções culturais de um sistema patriarcal, sexista, racista e anti-igualitário.
É dentro deste sistema que nós, mulheres, categorizadas como grupo historicamente marginalizado e oprimido, nos movemos. Movemo-nos, e com o nosso movimento, movemos o mundo. Não pertencemos a um movimento. Nós somos O movimento. Mulheres moventes, fluídas, incontáveis e incontíveis, buscando mover as estruturas, alargar os limites, e incluir todos que um dia já foram excluídos. Usamos a nossa criatividade para cocriar novos futuros possíveis; cocriar mundos sem colonizados, colônias nem colonizadores.
As reivindicações das mulheres movem-se junto com elas. Até o século 18, reivindicávamos o status de seres inteligentes. Até o século 19, reivindicávamos o direito de estudar. Até o século 20, reivindicávamos o direito de votar e ser votada. A gente pensa que tudo isso passou. Mas quando analisa a bibliografia das disciplinas dos cursos de ensino superior percebe o quanto ela ainda é masculina, branca e rica. Quantas autoras negras você já leu? E periféricas? E indígenas? Elas são muitas, mas, para nós, permanecem invisíveis. Não esqueçamos que o privilégio das letras, por muitos séculos, foi masculino. Os homens dominavam a escrita, o código, os meios de produção de informação, comunicação e conhecimento. Até hoje eles publicam mais do que as mulheres. Mas privilégios não são naturais; são sociais e culturais porque foram constituídos à custa da opressão contra os grupos historicamente subalternizados.
O que seria da violência senão uma forma de manter as coisas como sempre foram?
Um mar abissal ainda nos separa daquilo que buscamos. Mas estamos atravessando esse mar abissal. A braçadas. Abraçadas. Se a cultura não nos inclui, trabalharemos em prol de uma que nos inclua. Quem se beneficia da cultura do modo como ela está formatada, teme aqueles que querem reformatar. Os desconformados negam as formas, pois elas já não lhes servem. Por isso, são sempre os mais vulneráveis à violência. O que seria da violência senão uma forma de manter as coisas como sempre foram?
Não é à toa que, segundo Conceição Evaristo, escrever e publicar é um ato revolucionário. Escrever sobre sonhos, no contexto no qual estamos inseridos, também o é. Numa aula recente, fui desencorajada a exercer o direito de sonhar simplesmente porque eu não era doutora. Foi aí que eu percebi, outra vez, o quanto algumas relações de trabalho podem ser reprodutoras de uma lógica colonizadora.
A mensagem que ficou gravada é que sonho é para doutores. Eu, de minha parte, acredito que o sonho é livre e recomendo: não permitam que colonizem os seus sonhos. Problematizem os hábitos naturalizados. Coloquem as suas palavras no mundo. Quebrem os estereótipos. Contestem a narrativa dominante, principalmente se esta for preconceituosa e discriminatória. Questionem as normas. Escravizar negros era norma… Subjugar indígenas era norma… Proibir mulheres de frequentar escolas e universidades era norma…
Escutem mais. Falem mais. Incomodem-se mais. E incomodem mais também. O incômodo muda o mundo.
A historicidade das mudanças sociais mostra que as normas, os padrões mudam, quando os fenômenos tidos como pressupostos e imutáveis são problematizados. Há 63 anos, a costureira norte-americana Rosa Parks se recusou a ceder o assento no ônibus a um homem branco. Ao recusar-se a ceder o lugar e ir parar na delegacia por isso, tornou-se uma das pioneiras na luta pela igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos e pelo fim das leis de segregação racial. Rosa usou as ferramentas que tinha à mão.
Usem as ferramentas que vocês têm: A Internet pode ser considerada um fator de reestruturação da vida social, da cultura, da comunicação e da política na sociedade atual, pois pode ser usada para ampliarmos a nossa ação sobre o mundo. Mas não se restrinjam à ela. Saiam da Rede com R maiúsculo e habitem as redes. Rompam com o silêncio, pois romper com o silenciamento é romper com a violência. É romper com as violências naturalizadas no cotidiano e que muitas vezes a gente não percebe como violência, segundo Djamila Ribeiro.
“Este é precisamente o momento em que os artistas precisam criar. Não há tempo para o desespero, nem lugar para autopiedade, nem necessidade de silêncio, nem lugar para o medo. Nós falamos, escrevemos, criamos linguagens. É assim que as civilizações se curam”, declarou Toni Morrison certa vez.
O lugar do subalternizado não é só um lugar de marginalização, é um lugar de potência, de resistência, de criatividade e reexistência. Mesmo diante dos limites impostos, vozes dissonantes têm conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa dominante. As mulheres, por exemplo, têm encarado o desafio de escrever a sua história nos seus termos.
Hoje eu quero provocá-los a criar. Negros, conheçam as estratégias de sobrevivência, os atos de insurgência e as narrativas de resistência da negritude. Revisitem Quilombo, leiam Milton Santos, Abdias do Nascimento, Nêgo Bispo, visitem páginas na Internet como a do Levante Negro.
Mulheres, conheçam as estratégias de sobrevivência, os atos de insurgência e as narrativas de resistência das mulheres. Conheçam Nísia Floresta, a primeira escritora feminista do Brasil, conterrânea dos potiguares, leiam a história das heroínas negras brasileiras, por Jarid Arraes, escutem as mulheres que pisaram na universidade antes de nós e as que aqui nem puderam pisar.
Gays, lésbicas, trans, travestis, conheçam as estratégias de sobrevivência, os atos de insurgência e as narrativas de resistência da comunidade LGTQI+. Conheçam Erica Malunguinho, primeira deputada negra e trans eleita no Brasil, leiam sobre a historiadora, professora e ativista Leilane Assunção, contribuam, na medida do possível, com abrigos LGBTQI+.
Escutem mais. Falem mais. Incomodem-se mais. E incomodem mais também. O incômodo muda o mundo. Criem vocês estratégias de sobrevivência, atos de insurgência e narrativas de resistência, e as propaguem. Subalternizados do mundo, uni-vos e distribui-vos! Ocupem as brechas. Forcem por mais espaço. Redesenhem as instituições que ocupam. Tornem este e outros espaços menos hostis a mulheres, negros, pobres, indígenas, povos de terreiro, gays, lésbicas, trans, travestis, favelados, e todos que já foram, são ou serão subalternizados. Os meus genes, iguais aos de minha mãe, estão desejosos por levar a próxima geração além de onde eu puder ir. E os seus?
 A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Há que adiar o fim de todos os mundos – Parte 2
Antonino Condorelli é Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Antonino Condorelli
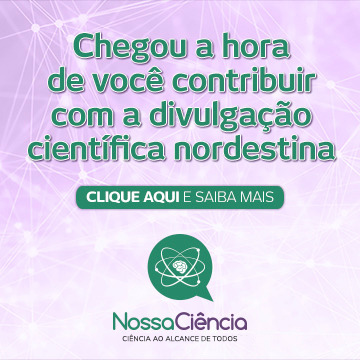







Excelente Adrielle! Parabéns! Você me traz forças para continuar a pesquisa com narrativas, com gente, com pessoas. Como Você diz não se trata de “dar” a voz
, isso é incorreto. Quem pesquisa com narrativas (de pessoas de todas as idades) sabe muito bem que as narrativas devem servir primeira e essencialmente a quem narra, para que sua voz se faça ouvir, para que seu pensamento ecoe sob a forma de resistência, para que possamos, narrador e narradora, pesquisador e pesquisadora, literalmente TOMAR a palavra negada, negadora, excludente, para nos fazer OUVIR e transformá-la em canto, força, resistência. Narrar é humano !!! Mas quem tem o direito de narrar e de ser ouvido, ouvida, lido e ser lida? Narrar na Web é abrir a possibilidades de se fazer ler, ouvir, de ter quem siga… e seguir narrando juntamente, Misturadamente!!
Um grande abraço e obrigada por seu texto, sua VOZ.