Há que adiar o fim de todos os mundos – Parte 2 Diversidades
 A nossa Caatinga, assim como a Amazônia e a Mata Atlântica, também é uma floresta, só que mais aberta e seca durante os períodos longos de estiagem (Parque Nacional da Furna Feia. Foto: Maria Luiza Falcão)
A nossa Caatinga, assim como a Amazônia e a Mata Atlântica, também é uma floresta, só que mais aberta e seca durante os períodos longos de estiagem (Parque Nacional da Furna Feia. Foto: Maria Luiza Falcão)
Neste segundo texto, o colunista conclui o diálogo começado semana passada com o pensamento de Ailton Krenak
A coluna desta semana, segunda parte do artigo Há que adiar o fim de todos os mundos, conclui o diálogo que comecei semana passada com o pensamento de Ailton Krenak que, em sua recente coletânea de ensaios Ideias para adiar o fim do mundo (Companhia das Letras 2019), coloca questões questões fundamentais para esta época em que a devastação intensificada de biomas e ecossistemas no Brasil e outros países, com a cumplicidade e o incentivo dos governos, escancara a violência da configuração contemporânea do projeto colonial que separou o humano da natureza.
Multiplicar os caminhos para outros mundos
A última, indispensável pergunta que – na minha leitura – os ensaios de Krenak levantam é a mesma que atormenta milhões de sensibilidades angustiadas e não tem nenhuma resposta pronta: o que fazer? Não existe resposta pronta porque não há e nunca haverá um único caminho possível, mas tantos quantos formos capazes de imaginar e construir juntos.
Uma sugestão do pensador é buscar alianças e cooperação entre modos de conhecer, de ser e de estar no mundo, promover uma ecologia de saberes – um diálogo ontológico entre mundos, eu diria – que implica em respirar outras humanidades possíveis, em deixar que se fecundem umas às outras multiplicando práticas e relações de solidariedade, ao invés que de “uso” predatório, entre humanos e demais seres. Não se trata de “acordos de cooperação” entre governos ou entre instituições públicas e entidades privadas para amenizar os custos sociais e ambientais da acumulação de capital e do consumo desenfreados, como na concepção do desenvolvimento sustentável e seus congêneres. O que Krenak encoraja são alianças entre humanidades excluídas ou inferiorizadas pela humanidade “universal” dominante, é a cooperação entre quase-humanos (pois considerados, na cisão instituída pela modernidade colonial, como parte da “natureza”) e entre quase-humanos e humanos muito-humanos (os “legítimos” detentores de uma humanidade externa à natureza) preocupados com seu futuro para que remodelem juntos a ideia de humanidade, redefinam as nossas necessidades e construam práticas de produção e reprodução do humano que valorizem, ao invés de aniquilar, tudo o mais que partilha conosco da Terra. A polinização de práticas e modos de ser e de viver não predatórios é que poderá transformar a visão e a ação de governos e de instituições internacionais.
Propor a valorização de conhecimentos, modos de vida e práticas de relação com os ambientes não humanos de povos inferiorizados pela matriz colonial de poder e de saber, como os que são chamados povos indígenas ou os quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e outros, não significa resgatar supostas – e inexistentes – “purezas originárias” que teriam se mantido idênticas nos séculos, nem muito menos idealizar essas práticas e saberes. Práticas e saberes que se reconfiguram o tempo todo, como qualquer conhecimento e forma de vida, em relação com os outros mundos com os quais interagem (ou que lhes são impostos goela-abaixo), construindo arranjos temporários próprios com as tecnologias, as ideias, as linguagens e os modos de vida da humanidade dominante. Aliar-se com saberes e práticas de povos chamados indígenas implica, como defende Alberto Acosta, assumi-los como são, como se apresentam hoje, sem idealizações.
O que significa, também, rejeitar o mito de uma “natureza intocada”, que advém da mesma matriz de pensamento que desgarra o humano da natureza e pensa a preservação não como valorização da diversidade, mas como criação de pequenas ilhas de “natureza intacta” no meio da devastação geral, e focar na manutenção dos ecossistemas, dos coletivos de humanos e não humanos que estão em constante movimento e transformação. Se pode comer carnes e peixes, extrair das árvores e do solo, desde que se assegure que os ecossistemas se reproduzam o tempo todo.
Foi o que fez a luta histórica dos seringueiros liderados por Chico Mendes no Acre, que no final da década de 1980 conseguiu remodelar o conceito desenvolvimentista de extrativismo provocando a criação de unidades ecológicas, preservadas do desmatamento para a criação de pasto, nas quais os povos nativos podem extrair castanha, borracha e açaí cuidando da manutenção dos ecossistemas. Uma concepção que o covarde assassinato do líder seringueiro em 1988 não conseguiu erradicar; aliás, parafraseando um verso de uma canção que a banda italiana I Nomadi compôs em homenagem ao ambientalista, só fez com que as sementes dessa árvore abatida se espalhassem pelo mundo, e delas brotarão florestas.
Prezar pelo coletivo de humanos e não humanos é também o tipo de relação que, no extremo norte da Rússia, o caçador nômade de etnia gold Dersu Uzala mantinha no início do século XX com a taiga siberiana e que comoveu o cartógrafo e explorador Vladimir Arséniev, que imortalizou sua relação com o caçador – de quem se tornou um grande amigo – em uma narrativa de viagem autobiográfica que, por sua vez, inspirou o clássico filme Dersu Uzala de Akira Kurosawa, lançado em 1975. Em um trecho do romance, Arséniev conta:
Durante o jantar, joguei no fogo um pedaço de carne. O gold percebeu e apressou-se retirá-lo e lançá-lo para o lado.
– Por que é que você joga carne no fogo? – perguntou-me com tom zangado. – Como você pode queimar carne sem motivo? Nós partimos amanhã, mas outros homens vão chegar e vão querer comer. E carne queimada não serve para nada.
– Quem virá por aqui? – perguntei-lhe.
– Ora! – exclamou espantado. – Virá um rato, um texugo ou uma gralha. Se não forem gralhas, um camundongo ou até uma formiga. A taiga está cheia de homens.
Dessa vez me dei conta de que Dersu se preocupava não só com os seres humanos mas também com os animais, até mesmo com bichos tão ínfimos quanto a formiga. Amando a taiga e tudo o que a povoava, ele cuidava dela tanto quanto lhe era possível[1].
O exemplo de Dersu, que integrava em sua interação com o mundo artefatos tecnológicos da modernidade ocidental redefinindo ou ampliando suas possibilidades de uso e dialogava de bom grado com saberes e instrumentos de Arséniev, um diálogo que fez com que o explorador construísse ao lado do amigo modos de relação com a taiga até então impensáveis para ele como sujeito urbano, não produziu mudanças jurídicas e institucionais como a luta de Chico Mendes, mas mostra que ecologias de saberes científicos e não científicos, que alianças com formas de conhecer e de viver não coloniais têm o poder de fazer florescer novas humanidades.
Humanidades que, voltando a Krenak, recusam a homogeneização sob o manto da racionalidade instrumental, de uma “universalidade” do humano que só significa homologação dentro do molde do homem ocidental moderno. É por isso que o pensador defende, como mais uma estratégia para adiar o fim de todos os mundos, a multiplicação da diferença. Não há índios no Brasil: há 250 povos que querem ser diferentes uns dos outros, falarem suas mais de 150 línguas e continuarem a dançar, a suspender o céu (ampliar os horizontes da própria subjetividade, experiência comum a muitos deles), a conversar com os inúmeros outros sujeitos (rios, montanhas, florestas, pássaros…) que povoam seus mundos e a viver pela simples alegria de estar vivos.
O Brasil deveria seguir o exemplo de seus vizinhos andino-amazônicos Equador e Bolívia, que em 2008 e 2009, respectivamente, promulgaram novas constituições reconhecendo-se como estados plurinacionais nos quais diferentes cosmogonias, modos de vida e formas de organização social e política convivem, dialogam a participam com igual status da gestão do comum. O passo mais revolucionário dado pelas constituições dos nossos vizinhos, em que um país de tamanha diversidade de biomas e sociedades como o Brasil deveria se inspirar, é o reconhecimento – único no mundo, até o momento – da natureza como sujeito de direito, a transformação política do mundo não humano de objeto a sujeito. Mesmo que, como denuncia Acosta, os governos de Rafael Correa e de Evo Morales – que promoveram os processos constituintes resultantes nessas mudanças jurídicas históricas – tenham praticado um extrativismo de estado contrário aos princípios sancionados nas novas constituições de seus países, com métodos tradicionais de extração e acumulação prejudiciais a vários biomas e comunidades (ainda que com o propósito de redistribuir na sociedade parte da riqueza assim produzida), a simples enunciação desses princípios em documentos constitucionais encerra uma potência transformadora incalculável, podendo propiciar, estimular e legitimar alianças entre instituições e comunidades para a construção conjunta de novos mundos comuns.
Ninguém tem resposta à pergunta “o que fazer?”, mas fontes de inspiração não faltam e muitas possibilidades nunca antes pensadas podem surgir da nossa capacidade de imaginar – e passar a viver – novos mundos possíveis. Foi assim que os chamados índios, lembra Krenak, vêm resistindo há quinhentos anos e o continuarão fazendo. Aprendamos deles. O que precisamos é não desanimar: Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar[2].
[1] Vladimir Arséniev, Dersu Uzala, tradução de Aguinaldo Anselmo Franco de Bastos, 2ª edição (Belo Horizonte: Veredas, 1997), p. 104-105.
[2] Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo… p. 28.
Alberto Acosta é um pensador equatoriano teórico do Buen-Vivir, ou Sumak Kawsay em quéchua, uma alternativa decolonial ao conceito de desenvolvimento baseada no diálogo entre saberes e práticas de povos subalternizados e conhecimentos filosóficos e científicos ocidentais para organizar a sociedade em fundamentos diferentes da acumulação de capital e do consumo. O conceito deSumak Kawsay é um dos princípios fundadores da nova Constituição do Equador, de 2008.
 A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Ouça, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Há que adiar o fim de todos os mundos – Parte 1
Antonino Condorelli é Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Antonino Condorelli
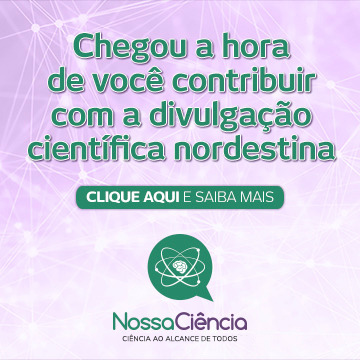







muito bom, parabéns. Sigamos
Muito obrigado, Lisabete! Um abraço e sigamos fazendo o que estiver ao nosso alcance para adiar a queda dos céus.