É preciso contracolonizar o jornalismo: nas vivências e ecos da terra Diversidades
 Contracolonizar o jornalismo é se deixar impregnar nas epistemologias de todas as gentes, vivas e não vivas, humanas e não-humanas (Foto: Arquivo da comunidade Boa Esperança)
Contracolonizar o jornalismo é se deixar impregnar nas epistemologias de todas as gentes, vivas e não vivas, humanas e não-humanas (Foto: Arquivo da comunidade Boa Esperança)
Deixar-se implicar nas cosmopercepções que surgem das entranhas vivas dos territórios e de seus povos como caminho para um jornalismo contracolonial
O texto discute a necessidade de uma nova abordagem no jornalismo, chamada de “contracolonial”, que vai além de ser apenas popular, comunitário ou independente. Essa abordagem envolve uma imersão profunda nas vivências e saberes dos territórios e das comunidades afetadas pelo colonialismo e pelo capitalismo, como pescadores, ribeirinhos e povos tradicionais. Sarah Fontenelle Santos critica o distanciamento da academia e do jornalismo tradicional, que muitas vezes transforma as histórias dessas comunidades em meros relatos sensacionalistas, sem uma verdadeira implicação nas suas lutas. A contracolonização do jornalismo busca uma conexão sensível e integral com os territórios, valorizando seus saberes e práticas, e promovendo uma comunicação coletiva e enraizada nas realidades locais.
Para continuar entregando conteúdo de qualidade, Nossa Ciência precisa da contribuição de seus leitores. Faça um pix para contato@nossaciencia.com
Quando ando nas comunidades atingidas por toda a marafunda do colonial capitalismo, seja junto a pescadoras e pescadores do litoral atingidos por grileiros; seja em comunidades atingidas por mineração; seja nas comunidades ribeirinhas, junto às mulheres do barro; seja junto a homens, mulheres e crianças que acordam todos os dias para sustentar o sistema e lutar contra a remoção de suas moradias porque o mesmo ingrato sistema que suga suas forças também rouba suas casas, eu penso sempre em como praticar/criar comunicação que parta desse chão. Exige um esforço teórico desde homens e mulheres que são sua própria teoria e metodologia, mas também exige muito do que a academia despreza, a prática. É onde justamente me afeto, me apaixono e me sensibilizo.

Narrar histórias de vidas reais que lutam em suas re-existências comunicativas exige muito mais do que técnicas: acima de tudo, exige se implicar no chão, no barro, no vento, nas possibilidades das balas, das pedras, das perseguições, nas rezas, nos encantados do lugar, nos saberes da lama, do barro, dos caranguejos, das águas, seja o que for. E é por isso que estamos dizendo entre alguns amigos que não basta ser popular, decolonial, alternativo ou independente: é preciso refundar as condições do jornalismo e ser contracolonial (porque não?). Este legado que Nêgo Bispo nos deixou para repensar nossas existências também tem nos provocado a dizer que a comunicação, quando feita desde o território, se expande na contracolonialidade. E não é apenas um novo adjetivo ou uma moda, é mergulho na cosmosensação de ser implicado e guiado nos modos de vida entranhados na terra.
No dizer de Nêgo Bispo, quem precisa se decolonizar é a academia que está impregnada da colonialidade. Por outro lado, os povos tradicionais e originários estão em contracolonização permanente desde que a Europa invadiu seus modos de ser e de produção de conhecimento. No esforço para pensar um outro jornalismo, nós contracolonizamos se não somos os “fazedores” de conhecimento, os “legitimados” pelas ciências que impõem seus métodos, mas fazemos confluir e transfluir os saberes para a construção de práticas que permitam a palavra coletiva circular desde um discurso comum. Assim é que possível chegar em comunidade e tomar um banho de mar, comer peixe com farinha no café da manhã com os pescadores, rir do cotidiano, falar de suas paixões, se impregnar das práticas, dos jeitos, dos falares, para então ser convidado a elaborar a palavra. “Vamos contar a história da nossa comunidade?”. E o mais certeiro sim nos faz enveredar pela construção comunitária. Esse jornalismo é popular? É. É comunitário? É. É independente ou alternativo? Também. Mas é algo mais. É contracolonial, porque bebe antes do sensível e dos sentidos do lugar. Não é meramente um arranjo teórico, é prática que se permite confluir no encantamento da vida e com ela elaborar soluções para denunciar os feitos do colonial capitalismo, ao tempo em que anuncia outros modos de vida e desejos do presente. Porque essa vida que defendemos já existe, não é promessa para o futuro.

A amiga Raquel Kariri tem dito que não é mais possível que vejamos os territórios apenas como paisagens. Digo também que já não é possível ver os corpos-territórios-histórias de vida apenas como aspas que vão engrandecer a paisagem textual jornalística para fortalecer as mesmas narrativas rasas, onde o sujeito é personagem pobre, dolorido e coitado. É preciso se implicar. Raquel diz: “é preciso que os jornalistas voltem a chorar”. É chorar enquanto luta, enquanto busca soluções coletivas e não se deixa abater. Parar no caminho não é alternativa, é luxo. Quando eu rio, luto e conheço as paixões do meu interlocutor, ele não precisa de mim para o salvar, porque passo a perceber um sujeito forte, com epistemologias enraizadas, com suas táticas e métodos de enfrentamento, que também me salvam. Em circularidade nos alimentamos e essa gente passa a ser mais do que uma aspa sensacionalista, é vida em sua mais pura ação.
Contracolonizar o jornalismo é ouvir e sentir a caatinga nos seus sons de seca resiliente e de abundância do verde, quando ele vem, e em ambos os momentos sentir sua cura. É sentir o gosto azul do mar e saber que ali há mais do que uma paisagem de águas: tem lutas contra grilagens, tem tempo de resistir às ressacas, mas têm saber para atravessar o agouro colonial. É ouvir os encantados e saber por onde andar. Não é alegoria. É se deixar impregnar nas epistemologias de todas as gentes, vivas e não vivas, humanas e não-humanas. E até aqui as experiências de comunicação no campo popular, por mais boas intenções que tenham ainda não abarcaram essa dimensão cosmoperceptiva. Por isso é preciso contracolonizar. A circularidade e biointeração é parte indissociável quando somos atravessados por essa cosmosensação, porque se espraia no corpo-mente-espírito, na integralidade do ser, a noção de que não estamos separados da natureza e ainda assim não deixamos de ser seres históricos e, em nosso devir, criamos nossas próprias táticas sem esperar a redenção do jornalismo-máquina-objetivo, mas fazemos nós mesmos um jornalismo com nossas subjetividades e encantamentos. Além disso, é entender que somos um só e uns nos outros, entre todas as gentes e essa interdependência é que nos possibilita criar um jornalismo que se anuncia, coletivamente, em circularidade, em biointeração com a terra e não desde um único indivíduo enunciador. Contracolonizar o jornalismo é ser terra e encantamento, não como alegoria, mas como vivência, afeto e implicação no território. Mas eu não sei se vocês sabem do que estamos falando, mas vos digo, eu não estou inventando.
Leia o texto anterior da Coluna Diversidades: Azânia: a desconstrução do conhecimento branco como caminho de emancipação
Sarah Fontenelle Santos, piauiense das águas do Parnaíba, jornalista independente do OcorreDiário, comunicadora popular, doutora em Estudos da Mídia, ganhadora do Prêmio Capes de Teses 2024.
Sarah Fontenelle Santos, com edição de Antonino Condorelli
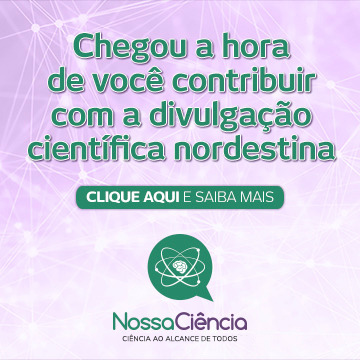







Deixe um comentário