Covid-19 e a crise da razão colonial Diversidades

Pensar a pandemia e o futuro pós-coronavírus exige ouvir as vozes abafadas pela colonialidade e olhar para os corpos esmagados pelo atual paradigma societário
Por Antonino Condorelli
Refletir sobre covid-19 e possibilidades de futuro não pode prescindir de um olhar voltado para os corpos esmagados pela colonialidade do poder e uma escuta atenta das vozes abafadas pela colonialidade do saber. Conceito forjado dentro do pensamento social crítico latino-americano, a ideia de colonialidade aponta para a permanência da matriz de pensamento, das formas de produção de subjetividades e dos modos de organização das relações econômicas, políticas e sociais criados pelo colonialismo no âmbito das consciências, das estruturas sociais e dos modos de conhecer e de organizar o real das sociedades que passaram pela dominação colonial europeia, assim como no das relações econômicas, políticas e epistêmicas globais.
O colonialismo promoveu relações de dominação, genocídio e epistemicídio com os mundos colonizados (dos quais, no entanto, canibalizou inúmeros elementos que contribuíram para estruturar seu modelo de civilização) e universalizou uma versão da modernidade que se estrutura a partir da imbricação de três estruturas que – embora diferentes – se entrelaçam e alimentam mutuamente nesse paradigma socioepistêmico: racismo, patriarcado e relações de produção regidas pela lógica da acumulação de capital e a privatização do comum.
A noção de colonialidade do poder, portanto, remete às estruturas racistas, patriarcais e de exploração e precarização brutais do trabalho que caracterizam sociedades como a brasileira. Estruturas que se expressam em fenômenos como o extermínio da juventude negra nas periferias urbanas por parte do estado; o genocídio dos povos originários em curso desde mil e quinhentos; o menosprezo pelo trabalho manual e sua exploração em situações próximas da escravidão; a predeterminação de lugares sociais subalternos para corpos racializados ou inferiorizados (como a associação de mulheres negras ao trabalho doméstico, de mulheres trans à prostituição, de homens negros à criminalidade, etc.); o feminicídio e a violência física, sexual, simbólica, psicológica e patrimonial contra as mulheres como mecanismos sistêmicos de regulação das relações de gênero; o genocídio diário de LGBTQIA+ e várias outras manifestações da ordem racista-patriarcal-capitalista de matriz colonial que sustenta a sociedade, assim como nos condomínios fechados, os muros que separam as favelas, os quartos de empregada e todas as múltiplas encarnações urbanísticas, arquitetônicas, jurídicas, econômicas que expressam essa ordem no cotidiano.

Antonino Condorelli – Foto Arquivo Pessoal.
A ideia de colonialidade do saber, por sua vez, refere-se à deslegitimação de todas as formas de produção de conhecimento não alinhadas às lógicas mestras, os pressupostos axiomáticos e os princípios de método que estruturam a versão hegemônica da ciência. É a inferiorização de todos os saberes e métodos de produção de conhecimento não estruturados pela matriz eurocêntrica de pensamento; uma violência epistêmica que destitui de legitimidade outros saberes reduzindo-os a crenças, mitos, folclore ou outros rótulos inferiorizadores. Uma violência que retira validade dos modos de conhecer, de viver e de organizar o real produzidos por comunidades indígenas, quilombolas, camponesas, por coletivos urbanos periféricos, por corpos racializados que atuam dentro e fora da ciência e da academia, por corpos que não se enquadram nas normatividades instituídas de gênero e de sexualidade, por movimentos sociais, entre outros atores.
Nessa perspectiva, há uma relação indissociável entre o processo histórico do colonialismo e a construção do capitalismo globalizado, assim como entre capitalismo, racismo e patriarcado como alicerces inseparáveis do paradigma civilizacional instituído pela modernidade ocidental. O colonialismo europeu, no agenciamento violento e assimétrico com os universos colonizados, criou o capitalismo, o racismo e a versão ocidental moderna do patriarcado; hierarquizou os saberes instituindo a tecnociência em única instância legítima e universal de produção de conhecimento e transformou o conjunto planetário das múltiplas combinações locais desses elementos em um sistema-mundo, um paradigma socioepistêmico global. Por esse motivo, é possível afirmar que o desdobramento contemporâneo do colonialismo seja a globalização capitalista.
A ideia de colonialidade, portanto, resulta um operador conceitual poderoso na medida em que permite compreender que o colonialismo pode ter acabado enquanto processo histórico, mas o tipo de sociedades e de mundo que construiu continuam em pé. Nesse sentido, ele está mais vivo do que nunca.
Tendo isso em mente, fica mais claro o que quero defender aqui: que a pandemia da covid-19 escancarou com inusitada intensidade os efeitos, as implicações e a crise da razão colonial. Uma razão que instituiu ontologias e epistemes centradas em binarismos como sujeito-objeto, corpo-mente, natureza-cultura, orgânico-inorgânico, homem-mulher e produziu pensamentos, processos de subjetivação, modos de produção e formas de vida que se estruturam a partir dessas dicotomias. Uma razão que universalizou seus fundamentos e converteu a versão hegemônica da tecnociência (que, em si, é uma instância plural atravessada por múltiplas correntes) no único caminho válido e legítimo de produção de conhecimento. Uma razão que produziu a raça, o gênero e outros dispositivos de construção identitária para organizar as diferenças, classificá-las e hierarquizá-las, situando-se acima dos corpos que racializou e generificou e transformando os corpos brancos, masculinos, cisgêneros e heterossexuais no paradigma geral do humano. Uma razão que, por meio de tudo isso, originou uma civilização planetária baseada na acumulação desenfreada de capital, a hierarquização dos corpos e das vidas, a depredação dos ecossistemas e dos biomas e a privatização do comum.
O novo coronavirus não é uma entidade alienígena que inexplicavelmente veio destruir nossa suposta “normalidade”: é produto direto dessa mesma “normalidade”. A pandemia da covid é consequência de alterações geoclimáticas e biológicas causadas pelo modelo de civilização hegemônico, que separa o humano de seu ambiente para que o primeiro possa se apoderar e dominar o segundo em benefício da acumulação privada de valor. É reconhecido pela própria ciência hegemônica que doenças transmitidas de animais a humanos, como a covid, aumentam com a destruição de ecossistemas, já que a destruição de habitats promove uma interação mais próxima entre grupos humanos e certos animais e isso acelera mutações e processos evolutivos dos vírus, fazendo com que as doenças se diversifiquem e passem a transitar indiferentemente entre animais e humanos. Se a isso acrescentarmos as mudanças na alimentação de muitas espécies; na qualidade das águas, dos solos e do ar; nas condições climáticas e etc. não é difícil perceber que tanto a atual quanto eventuais futuras pandemias que possam vir a ser provocadas pelo surgimento de novos agentes patógenos não são ameaças externas à atual civilização planetária, mas suas consequências diretas e até mesmo previsíveis.
Da mesma forma, se em algumas sociedades a pandemia tem servido como pretexto para intensificar e radicalizar mecanismos de regulação e controle social, por meio de dispositivos jurídico-administrativos e tecnológicos, em países como o Brasil tem estado a serviço de um projeto necropolítico de governo das subjtividades pela manipulação dos desejos e de eliminação dos vulneráveis (sabemos que as estatísticas apontam que negros, moradores de favelas, indígenas e outros grupos inferiorizados são as principais vítimas dos aberrantes números de óbitos por covid no país). Em países como o nosso, estruturados pela colonialidade das relações de poder e de saber, a pandemia tem extremado os genocídios de negros, indígenas, LGBTQIA+ e outros corpos subalternizados; aumentado a precarização das vidas e do trabalho, cada vez mais reguladas por lógicas algorítmicas; exacerbado o governo dos corpos e das subjetividades pelo dispositivo do dividir para dominar.
A pandemia, então, é produto do modelo de civilização e do paradigma epistêmico colonial mundialmente hegemônicos e tem servido ao biopoder e necropoder dominante para reafirmar, aperfeiçoar e intensificar seus mecanismos de regulação social, hierarquização das vidas, acumulação de capital e, em alguns casos, de extermínio.
Por isso, também a busca de soluções aos problemas postos pela covid – como prevenir e evitar futuras pandemias, como reorganizar os processos de produção, etc. – tem sido norteada pelos princípios que fundamentam esse bio e necropoder: fala-se em aperfeiçoamento do trabalho remoto, investimento em tecnologia, aumento do poder dos algoritmos na regulação das relações de trabalho, investimento na pesquisa científica, etc. Este último, certamente, é muito importante, pois é da ciência que podem vir vacinas e outros dispositivos de prevenção, mas levanto o questionamento: se a pandemia foi gerada por um modelo de civilização baseado na universalização da tecnociência para a depredação da natureza e a acumulação de capital, pensar que apenas mais ciência e mais tecnologia possam apontar para um futuro diferente irá mesmo contribuir para a construção desse futuro? Pensar um futuro pós-pandêmico dentro do horizonte de possibilidades posto pelo mesmo paradigma do qual a pandemia é consequência, pensar em como evitar novas catástrofes a partir dos pressupostos que estruturam o sistema que provocou as atuais não ajudará nem a evitá-las, nem a construir um mundo melhor.
Acredito que para pensar em um futuro diferente seja necessário problematizar as lógicas capitalistas, racistas, patriarcais, epistemicidas e tecnocêntricas, de matriz colonial, que regulam o atual modelo de organização do real que a globalização do capital transformou em planetário. Para isso, penso que seja mais necessário do que nunca ouvir as vozes que há muito tempo tensionam e confrontam a colonialidade, em sua maioria vindas de corpos individuais e coletivos que essa mesma colonialidade subalternizou. Vozes e corpos que pensam, vivem, sentem, organizam seus universos, produzem saberes, promovem ontologias e epistemes que sugerem possibilidades de mundo, aliás, de mundos estruturadas em princípios diferentes do separar e do dominar.
Poderíamos ouvir mais, por exemplo, vozes de pensadores indígenas como a de Aílton Krenak, sobre cujas ideias para adiar o fim do mundo (quer dizer, de todos os mundos que habitam este mundo) refleti o ano passado nesta coluna. Como aprofundei naquela ocasião, Krenak vem pondo há muito tempo questões fundamentais para a nossa época, que penso que hoje nos ajudem a pensar sobre as raízes da pandemia e os futuros possíveis depois dela Questões como a problematização da ideia de humanidade hoje imperante, uma humanidade homogênea e excludente que hierarquizou seus próprios membros em mais e menos “desenvolvidos”; forjou a “natureza” para se separar dos outros seres e a objetificou para dominá-la; externalizou sua subjetividade e a natureza na mercadoria e a abstraiu em “valor de troca” que possibilita o intercâmbio universal, mercantilizando toda a vida e transformando seres em “commodities”. Uma humanidade que trata uma parte de si, aquela que não se adequa ao “desenvolvimento” que engendrou, como descartável.
 Krenak também pergunta por que despersonalizamos os rios, as montanhas, as florestas, por que lhes retiramos sentidos, atribuindo-os apenas aos humanos, transformando-os em meros objetos para as atividades extrativistas? E se considerássemos os seres não humanos, incluindo os inorgânicos, como portadores de direitos, como nos ensinam os povos dos Andes que conseguiram incorporar essa ideia nas constituições dos estados plurinacionais do Equador e da Bolívia? E se nos inspirássemos na relação comunitária com a terra e com os comuns praticada pelos povos descendentes dos maias no México e na Guatemala? E se ampliássemos nossas ideias de comunidade e de sociedade até que abranjam todos os seres vivos e não vivos, orgânicos e inorgânicos, como nos ensinam alguns povos amazônicos?
Krenak também pergunta por que despersonalizamos os rios, as montanhas, as florestas, por que lhes retiramos sentidos, atribuindo-os apenas aos humanos, transformando-os em meros objetos para as atividades extrativistas? E se considerássemos os seres não humanos, incluindo os inorgânicos, como portadores de direitos, como nos ensinam os povos dos Andes que conseguiram incorporar essa ideia nas constituições dos estados plurinacionais do Equador e da Bolívia? E se nos inspirássemos na relação comunitária com a terra e com os comuns praticada pelos povos descendentes dos maias no México e na Guatemala? E se ampliássemos nossas ideias de comunidade e de sociedade até que abranjam todos os seres vivos e não vivos, orgânicos e inorgânicos, como nos ensinam alguns povos amazônicos?
E se lêssemos e ouvíssemos mais as pensadoras e os pensadores negros brasileiros (Abdias Nascimento, Lélia González, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, entre muitos outros)? Isso nos ajudaria a compreender como funciona o racismo como estrutura organizadora e reguladora das relações sociais; a entender melhor os processos de produção de subjetividades racializadas; a perceber os apagamentos e as invisibilizações das vozes e corpos racializados nos pensamentos e movimentos feministas e nos modos de se pensar e praticar as lutas emancipatórias em geral; a enxergar com mais clareza as articulações dos dispositivos de raça, gênero e classe na configuração do bio e necropoder hegemônico. Ouvir essas vozes nos ajudaria a compreender que não pode haver democracia sem combate ao racismo e que pensar um mundo diferente do que provocou a pandemia, um mundo na qual futuros novos agentes patógenos não contribuam para intensificar genocídios e opressões, significa necessariamente pensar na desconstrução conjunta das estruturas racistas, patriarcais e capitalistas do atual modelo societário.

O movimento Liberte o Futuro desafia a imaginar outros mundis possíveis no pós-pandemia – Imagem Divulgação
Ouvir as vozes subalternizadas pela colonialidade nos ajudaria a compreender que precisamos construir um mundo onde vidas indígenas importam, onde vidas negras importam, onde vidas trans importam, onde as vidas as mulheres importam, onde vidas não humanas importam… onde a vida importa, acima do capital e de todos os dispositivos de hierarquização e dominação dos corpos e das existências. Pensar o futuro a partir das vozes e corpos subalternizados significa – como desde os anos Noventa vem apontando o movimento zapatista do estado de Chiapas, no México – pensar um mundo onde caibam todos os mundos.
Recentemente, surgiu nas redes sociais uma iniciativa interessante chamada “Liberte o Futuro”, à qual aderiram pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, ecologistas, antifascistas, intelectuais, artistas, etc. e que incentiva a soltar a imaginação para pensar outros mundos possíveis tendo como norte alguns dos princípios que trouxe aqui, como a necessidade de superar a ideia ocidental de desenvolvimento e a de que sem luta ao racismo não há democracia. Partindo do conceito dessa iniciativa, concluo estas reflexões com esta ideia: para libertar o futuro é preciso libertar as potências epistêmicas e políticas esmagadas pelo presente.
Referências:
Antonino Condorelli é Professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do grupo de estudos Epistemologias Subalternizadas e Comunicação – DesCom.
Este artigo é a adaptação da intervenção do autor na mesa redonda “Libertar o futuro para adiar o fim do mundo: epistemologias subalternizadas, pandemia e a construção de novos mundos possíveis”, que aconteceu no dia 07 de agosto de 2020 na plataforma virtual Zoom e representou o evento de encerramento do ciclo “A pandemia de covid-19 e os desafios societários”, organizado pelo Campus de São Bernardo da Universidade Federal do Maranhão.
 A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Carta para a minha avó negra
“Epistemologias Subalternas e Comunicação – desCom, um grupo de estudos e projeto de pesquisa do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
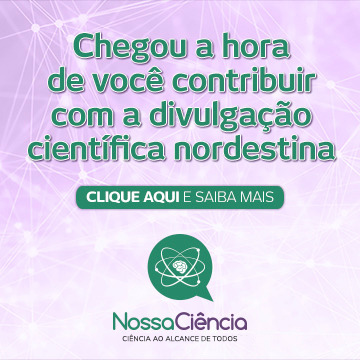







Deixe um comentário