Como os estudos sobre a descolonização me ajudaram a lidar com o medo de falar Diversidades
 Foto: Adrielle Mendes
Foto: Adrielle Mendes
Andrielle Mendes vem buscando em suas pesquisas mostrar que os povos indígenas têm muito a contribuir com o campo da comunicação
Por Andrielle Mendes
Antes, eu tinha medo de falar…
E lendo sobre o sexismo, percebi que sentia medo de falar, porque eu era uma mulher
Lembrei das fogueiras e aquilo me queimou por dentro
Antes, eu tinha medo de falar…
E lendo sobre o racismo, percebi que sentia medo de falar, porque eu era uma mulher racializada
Lembrei das correntes e aquilo que aprisionou por dentro
Antes, eu tinha medo de falar…
E lendo sobre o capitalismo, percebi que sentia medo de falar, porque eu era uma mulher racializada empobrecida
Lembrei da fome e aquilo me devorou por dentro
Antes, eu tinha medo de falar…
E lendo sobre o colonialismo, percebi que eu sentia medo de falar, porque eu era uma mulher racializada empobrecida colonizada
Lembrei dos laços e aquilo que amarrou por dentro
Dos ventres espoliados de onde eu vim
Escorre um fio de fala desautorizada
Nasci para falar por mim
Mas também pelas ancestrais que em mim fazem morada
Falo para dentro, quando não me sinto autorizada a falar para fora
E falando para dentro…
Apago a fogueira da inquisição
Quebro as correntes
Sacio a fome por expressão
E desato os laços. Nos dentes.
(Poema de Andrielle Mendes)

Andrielle Guilherme
Este poema nasceu durante a pesquisa de doutorado. Inserir um poema em uma tese é, neste momento, minha maior revolução, pois durante boa parte da minha trajetória acadêmica, escutei que minha fala era inadequada para a universidade por ser oralizada demais, poética demais, literária demais, jornalística demais e qualquer outra justificativa, que contribuísse para eu me sentir menos pertencente à academia. Só em 2020 eu fui aprender o princípio da não-separabilidade que guia algumas sociedades indígenas e entender o porquê eu faço ciência e poesia ao mesmo tempo.
No meio da pesquisa, decidi mudar a orientação, porque não me era permitido falar as minhas palavras nem pensar os meus pensamentos. Naquela época, eu não sabia da minha ancestralidade indígena, mas já reivindicava o meu direito à autodeterminação. Cobrava autonomia, pois me sentia asfixiada sendo “tutelada” da forma como vinha sendo. Também exigia que respeitassem as marcas da oralidade que eu havia herdado das ancestrais que sequer conheci. Uma semana depois, minha intuição se confirmou, quando o pajé de um dos povos indígenas do estado onde nasci perguntou qual era a minha etnia num encontro sobre a descolonização dos saberes na universidade. Mesmo sem saber que eu pertencia a um povo originário, eu trazia, de forma inconsciente, dentro de mim, a reinvindicação por menos tutela e mais autonomia – reivindicações ancestrais.
Buscando os documentos da família, descobri que meu avô nascera em território indígena, mas como não sei onde nasceram os pais, os avós, bisavós dele, não posso garantir que essa ancestralidade termina no Brasil. Provavelmente, ela se estende até a África, pois sonho com palavras, lugares e povos originários da África pré-colonial, e os sonhos, dentro de algumas culturas originárias, é um meio de comunicação com a ancestralidade. Conhecer essa história transformou a minha pesquisa. Tenho buscado desde então mostrar que os povos indígenas têm muito a contribuir com o campo da comunicação, a minha área de estudos.
Meu desafio tem sido mostrar como palavras indígenas de línguas originárias podem se transformar em conceitos para ler a mídia, a comunicação, e a realidade representada pela comunicação e pela mídia. Com esse exercício, procuro mostrar que é possível ajustar as nossas lentes para ler, interpretar e ressignificar o mundo a partir de outros olhares. O desafio é imenso, afinal são mais de 305 povos indígenas falantes de 274 línguas só no Brasil, sem considerar os povos e línguas isolados e desconhecidos. A diversidade parece grande, mas já foi muito maior, já que antes das invasões dos colonizadores, o que viria a ser o Brasil era habitado por cerca de 1,5 mil povos e mais de 5 milhões de indígenas, segundo estimativas.
Os estudos sobre a descolonização me ajudaram não só a lidar melhor com o medo de falar, como também me fizeram acreditar numa ciência capaz de aprender com os povos originários, com a mãe terra, com o avô rio, com as irmãs árvores, plantas, animais. São muitos os indígenas que dizem se comunicar com não-humanos. Daniel Munduruku, por exemplo, relata o dia em que o seu avô Apolinário lhe recomendou que ouvisse o rio. Eu mesma aprendi muito, tempos atrás, com uma formiga.
Eu estava com dificuldade para escrever um artigo por ouvir sempre que eu não conseguia escrever de forma adequada devido à oralidade dos meus textos. Lembro de abandonar o artigo, ir até o jardim e observar uma formiga carregando uma folha dez vezes maior do que ela. E de dizer para mim: ninguém disse para ela que não conseguiria carregar essa folha. Ali mesmo, escrevi o artigo, depois apresentei num congresso internacional, e ainda publiquei em uma revista científica latino-americana.
 Os seres rotulados de não inteligentes nos ensinam: os animais nos ensinam, as plantas nos ensinam, o rio, a montanha nos ensinam. Mas para acessar esse ensinamento é necessário um outro tipo de inteligência, pois a razão cartesiana e positivista não dá conta. É preciso enxergar e ouvir com os olhos e ouvidos do coração, como diz Daniel Munduruku. Mas quem consegue? Será que podemos desaprender o que aprendemos para aprender o que não aprendemos? Não esqueçamos que nós, povos racializados, também fomos rotulados de povos sem inteligência, sem alma, bestas sem linguagem.
Os seres rotulados de não inteligentes nos ensinam: os animais nos ensinam, as plantas nos ensinam, o rio, a montanha nos ensinam. Mas para acessar esse ensinamento é necessário um outro tipo de inteligência, pois a razão cartesiana e positivista não dá conta. É preciso enxergar e ouvir com os olhos e ouvidos do coração, como diz Daniel Munduruku. Mas quem consegue? Será que podemos desaprender o que aprendemos para aprender o que não aprendemos? Não esqueçamos que nós, povos racializados, também fomos rotulados de povos sem inteligência, sem alma, bestas sem linguagem.
O racismo inferioriza o racializado e faz ele duvidar das suas capacidades. Por isso, duvidamos de nós mesmos e temos medo de colocar as nossas palavras no mundo. Temos medo de usar a nossa voz, de falar a nossa palavra, e de pensar o nosso pensamento. Falar, entretanto, é poder existir, afirma Djamila Ribeiro. Apesar de todo o medo, de todo a ansiedade, de todo o pavor para falar em público – ou compartilhar o que escrevo com o público – digo hoje mais sim do que não, e quase não deixo passar a vez, como aprendi lendo o artigo Erguer a voz, não passar a vez: mulheres negras periféricas e os desafios da vida acadêmica, de Elânia Francisco Lima, mesmo sabendo que, no caso dos povos indígenas, falar também é um risco.
Basta ver o número de lideranças indígenas assassinadas, porque ousaram falar as suas palavras. Um professor indígena comentava que foi, certa vez, capturado, sequestrado, preso, e só não morreu, porque o revólver falhou em todos os disparos, mesmo dizendo que era apenas um professor, e não um “atiçador de índios”, como acusavam os seus sequestradores. Mesmo com medo, eu falo, porque aprendi com Audre Lorde que o meu silêncio não me protegerá. E escrevo, porque não me resta nada além de escrever, como disse certa vez Glória Anzaldúa.
Por muitos anos na universidade, eu só podia aparecer nos lugares onde eu era autorizada a aparecer e a falar quando eu era autorizada a falar, ou seja, nos bastidores, nunca no palco, enquanto figurante e nunca como protagonista. Lembro o dia em que fui orientada a me apresentar como secretária ao invés de estudante; de quando disseram que eu estava “com cara de dona de casa” ao fim de uma reunião de trabalho com pesquisadores de todo o departamento; de quando disseram que eu não deveria ser incluída na equipe do cerimonial e sim na equipe responsável por abrir as salas e cuidar do estacionamento; e também do dia em que disseram que me mantinham amarrada pela perna à mesa para não ser roubada por outras pessoas, junto com outras pesquisadoras racializadas – para ficar em apenas quatro exemplos. Era como se eu só pudesse estar ali na condição de secretária, dona de casa, porteira ou escravizada e não como pesquisadora, pós-graduanda, professora.
Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia dizer o que era, até o momento em que comecei a ler textos de escritores indígenas e negros. Eu sabia que além de mim, outros colegas vivenciavam situações muito parecidas, mas eu não tinha consciência crítica de que se tratava de um processo histórico e estrutural. Ao tomar consciência das violências físicas e simbólicas impostas aos povos racializados, decidi mudar o tema da tese, porque, ao me reconhecer enquanto corpo racializado, periférico, empobrecido e colonizado, não quis usar o meu tempo com pesquisas que não problematizassem as práticas e discursos violentos. Eu não conseguia mais fechar os olhos para as violências ao meu redor. Nem a boca.
Lendo escritores racializados, compreendi que a universidade, na época de sua fundação, não foi pensada para ser ocupada por grupos historicamente oprimidos, cujos territórios, corpos e mentes são invadidos, espoliados e massacrados ano após ano, desde a colonização. Passei a entender também que mesmo quando um corpo indígena e negro permanece mudo numa aula, numa mesa de discussão, num seminário, ele exerce uma força descolonial pelo seu (nada) simples estar ali; sua (nada) simples presença alarga os limites da universidade ao tensionar as limitações da instituição.

Foto: Adrielle Mendes
Venho há algum tempo procurando abrir espaço. E não só isso, procurando ajudar outras pessoas racializadas a permanecer nesses espaços. Não faço só por mim; faço por nós. Sofri violência simbólica na universidade e quase desisti. Mas depois pensei: o meu povo lutou 30 anos ininterruptamente contra os colonizadores europeus aqui no litoral Nordestino – e continua lutando contra a colonialidade persistente -, eu vou aguentar três anos de doutorado. Não só fiquei, como ajudei outras amigas a permanecer (e elas me ajudaram também).
Aprendi com Nilma Gomes que sempre que um corpo racializado empobrecido periférico colonizado entra na universidade, provoca tensionamentos ao deslocar, mesmo que minimamente, estruturas sedimentadas a partir de práticas e discursos racistas, sexistas e colonialistas. Isso ocorre, porque a inserção de indígenas e de outras pessoas racializadas dentro da universidade amplia a diversidade das pesquisas não só no que diz respeito aos temas, mas às estratégias metodológicas, ao trazer para a universidade modos de ser, fazer, pensar e se relacionar comuns a muitas sociedades originárias, ampliando os horizontes das pesquisas e os horizontes de existência também.
Os indígenas têm muito a ganhar com a universidade, mas a universidade tem ainda mais a ganhar com a inserção dos indígenas, pois eles são doutores em um conhecimento que é milenar e precisa ser preservado para que a cidade aprenda, sobretudo, sobre a solidariedade que se tem em uma aldeia, onde se um tem, todos comem, e quando um não tem, o outro vai ajudar, analisa Márcia Wayna Kambeba.
Eu só soube disso um ano atrás, pois, eu nunca tinha entrado em contato com uma bibliografia indígena até me (re)conhecer indígena. Há um ano eu não sabia quem eu era nem de onde vinha. Foi necessário que uma pessoa “de fora”, um terceiro, aparecesse para me dizer quem eu poderia ser e de onde eu poderia ter vindo. Darcy Ribeiro, quando teorizava a condição de ninguendade do brasileiro (nem indígena, nem africano, nem europeu), parecia falar sobre mim, pois eu me sentia esse ninguém.
Eu me sentia ocupando um não lugar, pois parecia não haver lugar para mim no mundo – muito menos na universidade. Pessoas aleatórias e desconhecidas costumavam, inclusive, me parar na rua e perguntar de onde eu era, questionando se eu era daqui do Nordeste, sugerindo que eu parecia ora uma mulher do “Norte”, ora uma colombiana, ora uma descendente de chineses. Era quase como estar em todos os lugares e ao mesmo tempo em lugar nenhum.
Por que eu demorei tanto para me (re)conhecer? Porque no imaginário dominante predomina a imagem do indígena que vive na floresta, usa sempre cocar, se nutre da pesca e da caça, quando na verdade, os indígenas estão em todo o lugar, mas nós não conseguimos enxergá-los, porque usamos lentes eurocêntricas, embranquecidas e masculinizadas, que servem como véus nos impedindo de ver o que está na nossa frente, quando não dentro da gente.
O espelho mostrava um rosto* que eu relutei em enxergar por muito tempo talvez por intuir que a partir do momento em que eu me identificasse dessa forma, eu me ligaria à história dos meus ancestrais, uma história marcada por violências físicas e simbólicas. No fundo, eu não queria me ver indígena, porque sabia das ameaças, dos riscos, e agressões que atravessam um corpo indígena. Sabia que reivindicar o meu direito de falar, de aparecer, de coexistir implicaria em riscos que eu não estava pronta para assumir naquele momento.
Parecia, até certo ponto, que carregar apenas a minha história pessoal de dor cansaria menos os meus ombros do que carregar a história coletiva de dor dos meus antepassados. Eu estava equivocada, pois quando ligamos conscientemente a nossa história à história dos nossos ancestrais, não tomamos posse apenas das heranças de dor, mas também de sua força, coragem, inteligência, sensibilidade e ciência. Na história dos nossos ancestrais, encontramos força para seguir adiante (fora e dentro da universidade).
Podemos encontrar no ontem caminhos para construir o amanhã, pois há estratégias de sobrevivência, que funcionaram muito bem no passado e não perderam a sua eficácia. No meio dessa pandemia, por exemplo, a comida que alimenta os famintos vem, sobretudo, dos quilombos, das aldeias, dos assentamentos, o que significa que o que nos nutre hoje e nos garante o amanhã vem de povos que são lidos enquanto passado a ser superado. Conhecer a história extraoficial, a história dos nossos mais velhos, e, principalmente, a nossa história, pode nos ajudar a entender quem nós somos e de onde viemos; pode mudar a forma como a gente se relaciona conosco, com as pessoas, com os seres não-humanos, e com as instituições, a começar pela universidade.
*Eu menciono o rosto por ter sido heteroindentificada pela aparência, mas não como alguém que pertencia a um lugar e sim enquanto alguém que parecia não pertencer a lugar nenhum, mas sei que a identidade indígena não se resume à aparência, à cor. Em breve, escreverei sobre isso.
Observação: No texto anterior, escrevi sobre a dificuldade de realizar pesquisa sem financiamento. Naquele momento, eu já havia sido aprovada em um edital. Hoje realizo a pesquisa com bolsa.
 A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é atualizada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Yanomami e o desrespeito às suas mortes
“Epistemologias Subalternas e Comunicação – desCom, um grupo de estudos e projeto de pesquisa do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
Nossa Ciência firmou parceria com a Saiba Mais – Agência de reportagem e jornalismo independente do Rio Grande do Norte. Saiba Mais.
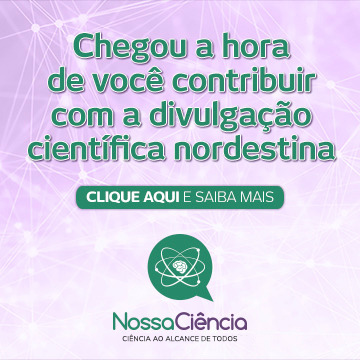







Deixe um comentário