O Presidencialismo de coalizão e as eleições de 2018 Artigos

Desde a Constituição de 1988, o Executivo mesmo que possua um imenso “poder de agenda”, não governa se não tiver apoio do parlamento
O primeiro a sistematizar o uso do termo presidencialismo de coalizão e servir como referência nos debates posteriores na ciência política foi Sérgio Abranches, num artigo publicado em 1988 utilizado para analisar a estrutura e o mecanismo de funcionamento do regime político-institucional brasileiro, antes mesmo da promulgação da Constituição em outubro de 1988.
O presidencialismo é o sistema de governo no qual o chefe do Executivo é eleito diretamente pelo sufrágio popular e tem um mandato independente do Parlamento e governos de coalizão são aqueles constituídos e sustentados por vários partidos políticos. No Brasil, o presidencialismo de coalizão se constituiu após o processo de transição da ditadura militar para o governo civil, com José Sarney e tem caracterizado o sistema político brasileiro desde então. Todos os governos pós-ditadura foram constituídos com base em coalizões.
A sua principal característica é que nenhum dos partidos políticos que elegeram presidentes da República conseguiram alcançar maioria no parlamento, o que levou à formação de alianças, tanto para eleger, como principalmente para governar, ou seja, o presidencialismo de coalizão se baseia na existência de coalizões partidárias que constituem a base de sustentação dos governos: os partidos participam oferecendo apoio ao governo no Congresso e assim garantir a governabilidade, assegurando a aprovação das propostas do governo no Congresso.
Se esse arranjo não conseguir assegurar tais condições, os conflitos entre o Executivo e Legislativo são inevitáveis e se desdobram em crise que afetam a governabilidade e poderão tornar o governo insustentável.
Timothy Power, pesquisador norte-americano, afirma que o presidencialismo de coalizão não é uma exclusividade brasileira. Governos de coalizão existem em 78% dos países parlamentaristas e 66% dos presidencialistas.
Mas, se não é exclusivo, apresenta algumas características que não existem em outros países, como salienta Abranches, para quem “A dinâmica macropolítica brasileira tem se caracterizado, historicamente, pela coexistência, nem sempre pacífica de elementos institucionais que, em conjunto, produzem certos efeitos recorrentes e, não raro, desestabilizadores. Constituem o que se poderia classificar, com acerto, as bases de nossa tradição republicana: o presidencialismo, o federalismo, o bicameralismo, o multipartidarismo e a representação proporcional”. Esse modelo é criticado até mesmo para alguns parlamentares, conforme a pesquisa que Timothy Power fez em 2009 com deputados e senadores. Ele é associado a vários problemas como o incentivo à corrupção e ao clientelismo, que facilita o troca-troca partidário, tornam lentas as decisões do Executivo (que precisa negociar com o Legislativo, sempre na base da troca de favores etc.,) e também ocorre o que ele chama de distorção dos resultados das urnas “pois o eleitor não pode predizer o perfil do futuro governo”.

Depois de renunciar à Presidência da República, Fernando Collor deixa Palácio do Planalto
Historicamente, com um Congresso fragmentado, o presidencialismo de coalizão sempre foi gerador de crises e de instabilidade política, especialmente quando o Executivo se revela incapaz de manter a base de apoio, como ocorreu nos governos de Fernando Collor (1990-1992) e no segundo governo de Dilma Rousseff (2015-2016) cuja conseqüência foi o impeachment de ambos.
Os problemas do presidencialismo de coalizão estão tanto no modelo, porque constituído sem programas e ideologias, como especialmente na sua gestão. Nos dois governos citados, com suas grandes diferenças, houve algo comum: a crise agravou-se pela associação entre a incompatibilidade da gestão política (e econômica) adotada e às frustrações das expectativas dos partidos aliados, com pouco diálogo no parlamento e não atendimento das reivindicações e demandas da base parlamentar, e não menos relevante, sem o apoio midiático, com intensos e cotidianos bombardeios influenciando a opinião pública, deixando os respectivos governos isolados, uma vez que sua base de apoio na sociedade também era frágil, com altos índices de impopularidade.
Para Sérgio Abranches, no citado artigo, a probabilidade de acumulação de conflitos em múltiplas dimensões, bem como de sucessão de ciclos de instabilidade, aumenta na proporção em que as energias no Executivo são consumidas na administração de crises e pelas dificuldades se chegar ao que ele chama de “consensos principiológicos básicos”: como são constituídos por vários partidos, é difuso tanto do ponto de vista ideológico como programático, portanto existindo um potencial de conflitos trazidos por uma aliança formada por partidos muito distintos, como ocorreu nos governos de Fernando Collor e Dilma Rousseff, esta, especialmente no segundo mandato.
O que parece existir é uma crise desse modelo no Brasil e talvez o que poderíamos chamar de dilema institucional brasileiro que para Abranches “define-se pela necessidade de se encontrar um ordenamento institucional suficientemente eficiente para agregar e processar as pressões derivadas desse quadro heterogêneo, adquirindo, assim, bases mais sólidas para sua legitimidade, que o capacite a intervir de forma mais eficaz na redução das disparidades e na integração da ordem social”. No entanto, o grande dilema a meu ver é que não há alternativas viáveis que o substitua. Os problemas não estão no multipartidarismo que, bem ou mal, representa a heterogeneidade da sociedade brasileira, ou no sistema de representação proporcional, mas na forma como se constituem as alianças tanto para vencer as eleições, como para governar com maioria parlamentar constituídas com as formas que se conhecem.
Assim, no presidencialismo de coalizão, mesmo o presidente sendo eleito diretamente e no qual o Legislativo forma o gabinete governamental, com a ocupação dos ministérios etc., qualquer que seja o presidente eleito, se não tiver maioria não consegue governar e se tem maioria, pode tornar-se refém do Congresso, como ocorre hoje com Michel Temer.

Parece existir o que poderia ser chamado de dilema institucional brasileiro
Desta forma, embora o Executivo desde a Constituição de 1988 possua um imenso “poder de agenda”, não governa se não tiver apoio do parlamento. Como disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por mais bem votado que tenha sido o presidente eleito, seu capital eleitoral (votos) tem de ser, no dia seguinte, convertido em capital político (apoios). Do contrário, ele reina mas, sem a “base aliada”, não governa…
A inoperância dos governos em suas articulações política pode agravar o problema, como a fragilidade de sustentação dessas alianças, a negociação com um congresso heterogêneo etc. No entanto, num momento de crise, quando acirram-se as tensões entre o Legislativo e o Executivo, o “nó górdio” do presidencialismo de coalizão aparece: trata-se de um sistema caracterizado pela instabilidade, cuja sustentação baseia-se, quase exclusivamente no desempenho do governo, com base construída sem programas e quando há uma queda acentuada de sua aprovação e de apoio no parlamento, amplia-se a instabilidade.
O problema para as eleições de 2018 é que o presidencialismo de coalizão continuará existindo, quem quer que se eleja presidente e, portanto não há alternativa que funcione melhor com elevada fragmentação partidária, que deve continuar no novo Congresso a ser eleito e cuja composição não deve ser substancialmente diferente da atual, ou seja, a probabilidade é que continue tão conservador como é hoje e, portanto sem expectativa de mudanças ou aperfeiçoamento deste modelo.
No caso dos candidatos da direita, é mais fácil a composição porque se unem no essencial, para assegurar seus privilégios, embora, no momento, não tenha consenso em relação a quem deverá apoiar, pois seus principais candidatos não têm densidade eleitoral e o que lidera as pesquisas (sem Lula) não tem, até agora, o apoio integral da direita (mas se ganhar, certamente integrará o governo). O problema é para a esquerda, que, seja com Lula, Guilherme Boulos ou Manuela D’ Ávila ou mesmo Ciro Gomes, por exemplo, sem apoio no Congresso (e da grande mídia que lhes é hostil), terá enormes dificuldades para governar. E mesmo que Lula possa ser candidato e se eleja, ele terá de compor uma maioria no parlamento e que, por suposto, não poderá ser da mesma forma que constituiu sua base de apoio nos seus dois governos, com partidos que o traiu e legendas de aluguel, como também ocorreu com Dilma Rousseff. Esse me parece ser um grande problema a ser analisado, discutido, tanto para a formação de alianças para as eleições que se aproximam, como principalmente para governar depois de eleito.
Veja outros artigos do mesmo autor:
Democracia é um valor na América Latina?
O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil
Homero de Oliveira Costa é Professor Titular (Ciência Política) do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Homero de Oliveira Costa
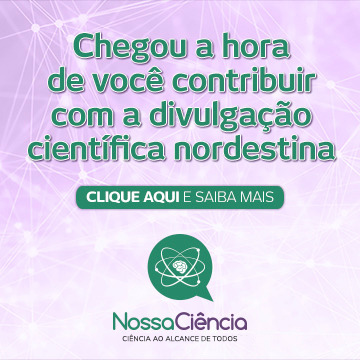







Deixe um comentário