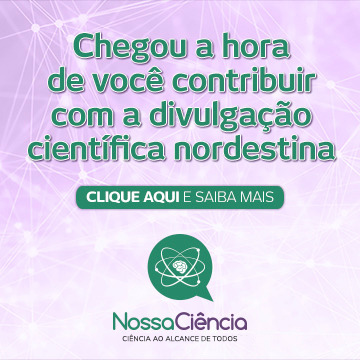Democracia e autoritarismo no Brasil Artigos
 Escravidão, como retratada na obra Família Brasileira, de Debret (1839) está na origem na civilização brasileira.
Escravidão, como retratada na obra Família Brasileira, de Debret (1839) está na origem na civilização brasileira.
A permanência do autoritarismo na sociedade brasileira aponta para a necessidade da defesa da democracia
(Homero Costa)
No livro A Revolução Burguesa no Brasil (1975) o sociólogo Florestan Fernandes mostra que um dos principais dilemas da sociedade brasileira é que ela não consegue desvincular-se do seu passado autoritário e escravista. Um autoritarismo (segundo o dicionário Houaiss, é um sistema político que concentra poder nas mãos de uma autoridade ou pequena elite autocrática) que está profundamente arraigado na sociedade brasileira e que pode, em parte, explicar, hoje, a adesão de parcelas significativas da população às saídas autoritárias e antidemocráticas, como a defesa de ditadura, de intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional etc.
Como afirma Marilena Chauí, o autoritarismo na sociedade brasileira “está de tal modo interiorizado nos corações e mentes que ouvimos com naturalidade a pergunta: ‘sabe com quem está falando?’ sem nos espantarmos de que isso seja o modo fundamental de estabelecer relação social como relação hierárquica” (Democracia e sociedade totalitária. Revista Comunicação & Informação. v. 15, n.2, p. 149-161, jul./dez. 2012).
Ao analisar a permanência do autoritarismo na sociedade brasileira, Florestan Fernandes mostra os limites da democracia no Brasil, afirmando que ela não pode se desvincular de seu conteúdo de classe, e que ao longo da história, se formou uma elite que não permite a participação efetiva do povo; um país caracterizado por grande e persistente concentração de renda e terra, déficit de educação, moradia, transporte, segurança e direitos sociais e políticos etc.
Historicamente, a burguesia nacional (e internacional) não permite que haja uma efetiva democratização do poder. Pode até permitir eleições, desde que não ponha em risco a concentração de poder e privilégios, portanto, uma democracia sempre limitada.

Sociedade brasileira não consegue desvincular-se do seu passado autoritário e escravista (Foto Nossa Ciência)
Para Florestan Fernandes, uma democracia só pode se afirmar como conseqüência de uma “revolução contra a ordem” e que só pode existir quando existe uma divisão do poder, quando a luta de classes ocupa um espaço político legitimo para sua manifestação. Assim, “as possibilidades da liberdade e da igualdade exigem o reconhecimento do conflito de classes, porque permite aos de ‘baixo’, às classes subalternas, frear as ambições de poder e privilégios dos de ‘cima’, dos poderosos”.
Para ele, há uma incompatibilidade entre democracia e capitalismo e no caso do Brasil, agravado pelo fato de ter um capitalismo dependente no qual as classes dominantes inviabilizam a participação popular, que não possa ir além da realização de eleições, também fortemente influenciadas por eles, com o financiamento de campanhas, constituição de bancadas nos parlamentos para a defesa dos seus interesses etc. Para ele, o que existe é uma autocracia, um governo organizado de cima para baixo e, portanto antítese de democracia. Autocracia a que ele se refere, se expressa como uma característica da concentração do poder, como um dos seus pilares, que não admite a transição de uma democracia restrita para uma democracia participativa.
Historicamente, há uma raiz autoritária e de exclusão na sociedade brasileira que permanece desde a colônia, com novas formas de mando e manutenção de privilégios. Desde sempre, uma inequívoca associação entre mandonismo e concentração de propriedade, renda e poder político. Sergio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1936)l se refere a um desses componentes, o patrimonialismo como forma de poder em que as fronteiras entre as esferas públicas e privadas se confundem e na qual o apadrinhamento, mandonismo e clientelismo são consequências.
No livro Sobre o autoritarismo brasileiro (Companhia das Letras, 2019) Lilia Schwarcz analisa o autoritarismo brasileiro numa perspectiva histórica. O livro é dividido em oito capítulos (escravidão e racismo, mandonismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência, raça e gênero e intolerância) mostra que, para compreender o presente, é necessário se remeter ao nosso passado “autoritário, escravocrata, controlado pelos mandões locais”.

Há uma associação entre mandonismo e concentração de propriedade, renda e poder político. (Foto: Nossa Ciência)
Todos os temas dos capítulos listados acima estavam presentes no Brasil Colônia, e que, com exceção da escravidão (oficial), se manteve durante a República (que nunca foi republicana no sentido rigoroso do termo, ou seja, de coisa pública) caracterizada desde o início pela privatização do Estado, com participação popular restrita e como uma das suas conseqüências, a ausência de direitos básicos como moradia, saúde, educação, transporte, lazer, segurança, enfim, de uma cidadania sempre precária. A República apenas deu continuidade as práticas de mandonismo, racismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência e intolerância do período anterior.
É que mostra o livro Coronelismo, enxada e voto (Forense editora, 1948), de Vitor Nunes Leal. Na Primeira República (1889-1930) o poder público deu continuidade ao que existia antes, da colônia ao Império, com o Estado sendo apropriado pelo poder privado, agora controlado por latifundiários, grandes proprietários de terras, limitando a participação popular e o voto. As eleições eram controladas e fraudadas, ou seja, as fraudes eleitorais eram práticas correntes e acontecia em todas as fases do processo eleitoral (manipulações das mesas eleitorais, eleição de “bico de pena” etc.) enfim, práticas generalizadas de controle e corrupção.
No pós 1930, houve inegavelmente maior controle do processo eleitoral, com a criação da Justiça Eleitoral em 1932 e de tribunais eleitorais que, a cada eleição, criavam regras mais rígidas para se evitar as fraudes eleitorais. No entanto, essencialmente não mudou o controle do Estado pelas classes dominantes, que, ao longo do tempo, alternou períodos de ditaduras (1937-1945 e 1964-1985) e experiências de democracia limitada (1945-1964 e o pós 1985), com persistentes déficits de participação popular efetiva, de exclusão social, econômica e política.

Para compreender o presente, é necessário se remeter ao nosso passado autoritário, escravocrata, controlado pelos mandões locais. (Foto: Nossa Ciência)
O poder das classes dominantes se expressa, entre outros aspectos, no domínio do aparelho de Estado, na representação política, na composição do Congresso Nacional. Quando se analisam o legado do poder privado na máquina governamental os dados disponibilizados pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) e citado no livro de Lília Schwarcz, mostram como a bancada dos parentes continua crescendo: “Na Câmara, em 2014 foram eleitos 113 deputados com sobrenomes oligárquicos, sendo parentes de políticos estabelecidos. Nas eleições de 2018, o número de parlamentares com vínculos familiares aumentou para 172”, ou seja, a continuidade do controle do congresso por famílias e oligarquias regionais.
Para Schwarcz, se é necessário compreender o passado para o entendimento do presente, não existe uma continuidade mecânica, mas quando se refere implicitamente ao processo eleitoral recente afirma que “a raiz autoritária de nossa política corre o perigo de prolongar-se, a despeito dos novos estilos de governabilidade. Mais uma vez, igualdade e diversidade, sentimentos e valores próprios da expansão dos direitos democráticos, correm perigo quando não se rompe com a figura mítica do pai político – agora uma espécie de chefe virtual, que fala em nome e no lugar dos filhos e dependentes -, do herói destacado e excepcional, do líder idealizado” (p. 63).
Num momento em que há uma guinada autoritária de parcelas significativas da sociedade brasileira, que acha que a adoção da maioridade penal e o incentivo ao armamento dos cidadãos, por exemplo, vai resolver ou diminuir a violência no país, quando a raiz está nas desigualdades sociais, construída historicamente, num momento de crise, social, política econômica e democrática, há mais do que nunca a necessidade da defesa da democracia, mesmo que limitada, mas que possibilite o combate ao ódio, a intolerância e a desigualdade social e contra tudo que ameace as conquistas e garantias constitucionais.
Leia outro artigo do mesmo autor:
Homero de Oliveira Costa é Professor Titular (Ciência Política) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Homero de Oliveira Costa