Como as mídias afetam a todos e a cada um – Final Artigos

Se tudo o que dizemos hoje, caso tenha alguma implicação para um grupo social mais amplo, passa pelas mídias sociais e essas mídias monitoram tudo com seus algoritmos, o que podemos dizer que não seja o que o sistema permita que digamos?
(Por Josimey Costa da Silva)
Leia a terceira parte do artigo
Nosso poder de simbolizar cria nossos deuses e nossos deuses, símbolos que criamos, nos recriam. Hillman se utiliza de deuses e mitos gregos para analisar as noções que definem comportamentos normais e patológicos da contemporaneidade. Ananke, a Grande Senhora do Mundo Subterrâneo, é a necessidade ou a compulsão. Ela está associada à patologia em termos do psiquismo arquetípico. Isso porque a necessidade nos obriga, nos constrange e nos condiciona. Para o autor, a necessidade de nos livrarmos dos vínculos pessoais “são esforços voltados para a necessidade de nos livramos do círculo apertado de Ananke”. A necessidade está fora do alcance da fala; vivenciamos a necessidade sempre sob constrangimento e sem imagens para representar o que ocorre. Por exemplo, a necessidade de respirar não precisa de imagens e nem de palavras para existir, nem se submete a elas. Então, quando estamos sob a necessidade, que é irrepresentável, a sufocamos com uma avalanche de imagens, que seriam o seu contrário, como uma forma de lidar com ela. Lidamos com a necessidade com imagens abundantes em nossos altares, com nossos deuses, com nossos avatares digitais, que nos libertam dos nossos constrangimentos. Simbolizamos assim a necessidade que não se apazigua simbolicamente.
Já Atena representa a conciliação entre Ananke e Nous, a razão. Ela traz a necessidade do mundo subterrâneo para a luzes da lógica, das regras, da norma. Ela normaliza a alma do mundo regrando a necessidade, o que nos faz definir o normal como o que se conforma às regras, como aquilo que é restrito, abarcável, controlável. Assim também lidamos com a nossa necessidade, mas desde imperativos externos a nós. Reduzimos a necessidade quando podemos ordená-la, ou pensamos que podemos. Aplicando isso ao mundo dos nossos perfis nas redes sociais, podemos entender melhor: ali controlamos a nossa imagem, normalizamos a nossa necessidade (de aceitação, de seduzir, de se destacar, de influenciar) e, se não estamos dentro da normalidade de uma quantidade definida de caracteres, visualizações, imagens admitidas, conexões delimitadas, estamos fora do mundo. Se mostramos o que somos ou o que queremos mais intimamente, se publicamos algo fora do “normal” esperado, ninguém nos curte. Se saímos da norma explícita ou implícita, somos aberrações.
Nessa realidade tão atual de que nossa comunicação interpessoal é cada vez mais mediada por aparatos digitais, prosseguimos um modelo que existe desde a sociedade da comunicação de massas, agora sociedade em redes: a comunicação dirigida ao coletivo na esfera pública é feita ou propiciada por corporações e dominada pelo sistema capitalista. Se tudo o que dizemos hoje, caso tenha alguma implicação para um grupo social mais amplo, passa pelas mídias sociais e essas mídias monitoram tudo com seus algoritmos, o que podemos dizer que não seja o que o sistema permita que digamos? E o que podemos pensar de desviante, divergente, se tudo o que majoritariamente nos informa e nos formata nos chega pela via das mídias sociais controladas pelos conglomerados gigantes da comunicação digital? Que tipo de pensamentos, símbolos e imagens colonizam nossas almas a partir da nossa exposição frequente, incessante, às mídias digitais? O que podem dizer as nossas almas, se elas nunca têm espaço para se manifestar livre e verdadeiramente, dada a dependência que desenvolvemos das plataformas de streaming, nas quais podemos ver filmes, vídeos e lives sem parar e sem lembrar depois do que vimos?
Agamben diz que contemporâneo é aquele que enxerga o escuro da sua época. Para enxergar, é preciso olhos de ver. A condição de ver é ser visto, mas não no sentido da celebrização instantânea dos likes, mas no sentido do reconhecimento à nossa existência por nossos semelhantes, como elucida Todorov. Esse reconhecimento da existência é da ordem do simbólico e é uma necessidade tão real e com efeitos tão concretos como a necessidade de viver, da ordem da biosfera. Cito Todorov: “nenhuma existência já vivida nos liberta da demanda de novas coexistências”. O não reconhecimento da nossa existência, seja em qual momento for, produz uma solidão profunda, que se manifesta corporalmente como angústia, opressão no peito, sensação de asfixia. Pensemos na velhice, que não é somente a diminuição das forças vitais, mas a enfraquecimento da existência social. Os velhos deixam de ser necessários; portanto, deixam de ser vistos e de ser reconhecidos em sua existência social. Seus corpos, assim como suas mentes, são descartáveis nestas sociedades em que somente números contam, sejam algoritmos ou cifrões.
O que ocorre quando somos vistos como números? Que tipo de reconhecimento existencial uma representação em números binários pode nos dar? Quando somos números, é fácil desconhecer nossas necessidades e nos substituir por outro número. E isso de fato está acontecendo no mundo atual. O que precisamos entender, para além disso, é como nós aceitamos que isso ocorresse conosco e como acabamos praticando estas mesmas desvalorizações em relação ao outro em nossas vidas digitais ou concretas. Descurtimos posts e recebemos dislikes com frequência; cancelamos perfis e somos cancelados sem cerimônia. Quando o outro passa a ser descartável, nós mesmo passamos a ser também porque é a consciência da alteridade, a diferenciação entre o si e o outro o que permite a nossa autopercepção como indivíduos. Então, como ser desviante nesse fluxo que converge para dentro da catástrofe?
Talvez o caminho trilhado por Serres nos dê outro rumo mais interessante para nosso futuro: devemos, contrariando o embotamento da nossa percepção e o distanciamento dos nossos afetos, ativar os sentidos, vibrar todos os músculos e aprender com toda a nossa corporalidade viva. Em tempos em que o toque e o beijo parecem proibidos, nossos corpos têm que estar muito vivos para não nos esquecermos de nós mesmos. Não é possível saber de antemão se isso pode ou não ajudar a instaurar um ordem mundial nova, mas vai, no mínimo, nos permitir reconhecer nossa própria existência para nós mesmos. A propriocepção como reconhecimento do nosso corpo e consciência de si a partir do reconhecimento do outro, da alteridade, são as melhores vacinas contra o soterramento perceptivo, a obliteração reflexiva ou o apagamento simbólico destes tempos tão obscuros.
Leia a primeira parte do artigo
Leia a segunda parte do artigo
Referências
HILLMAN, James. Encarando os deuses. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1997.
AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009.
TODOROV, Tzvetan. A vida em comum: ensaio de antropologia geral. Sao Paulo: UNESP, 2014.
SERRES, Michel. Filosofia mestiça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
Josimey Costa da Silva é doutora em Ciências Sociais/Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e pós-doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECOPÓS/UFRJ). É pesquisadora e docente nos programas de pós-graduação em Estudos da Mídia (PPGEM/UFRN) e em Ciências Sociais (PPGCS/UFRN). É membro do Grupo de Estudos Transdisciplinares em Comunicação e Cultura (Marginália/UFRN/CNPq), integrando a linha de pesquisa Comunicação urbana, corpo, estética e imagem. Também poeta e escritora de contos com diversas publicações.
Josimey Costa da Silva
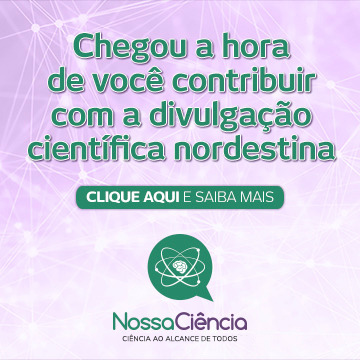







Deixe um comentário