A tragédia em Charlottesville: até onde a distorção do conhecimento científico pode chegar? Artigos

Em seu artigo, o biólogo Thiago Jucá explica como a ciência parte de argumentos biológicos, físicos, químicos e filosóficos para desinventar o conceito de supremacia racial
Semana passada um dos trend topics no twitter mundial foi a tragédia ocorrida na cidade de Charlottesville, a qual deixou uma pessoa morta no estado americano da Virgínia. Inúmeras discussões ocorreram em decorrência desse episódio. Primeiro, a tragédia em si; depois pelos comentários de Donald Trump de que “existia equivalência moral” entre os grupos opositores; e por fim, pela grande repercussão negativa acerca dos comentários do presidente americano. O ex-presidente Barack Obama teve os tuítes mais curtidos da história ao criticar Trump, citando em sua rede trechos de um discurso de Nelson Mandela. Já o Secretário Geral da ONU afirmou que “o racismo, a xenofobia, o antissemitismo e a islamofobia estão envenenando nossas sociedades. Devemos combatê-las. Sempre. Em qualquer lugar”.
O episódio ocorreu por conta da ameaça da remoção da estátua do General Robert E. Lee (1807-1870), um dos símbolos da luta pela manutenção da escravidão nos estados do Sul do EUA que, em 1861, declararam independência (guerra da secessão) dos estados do Norte, onde a prática da escravidão havia sido abolida. A remoção das estátuas das pessoas, símbolos do movimento pró-escravidão, tem desencadeado a revolta por parte de supremacistas brancos.
Alguns podem argumentar que a defesa desse tipo de manifestação preconceituosa remete aos primórdios da humanidade, mas como deixa bem claro o Professor e Médico Geneticista da UFMG, Sergio Pena, em um artigo intitulado “O DNA do racismo”, “parece existir uma noção generalizada de que o conceito de raças humanas e sua indesejável conseqüência, o racismo, são tão velhos como a humanidade. Há mesmo quem pense neles como parte essencial da “natureza humana”. Isso não é verdade. Pelo contrário, as raças e o racismo são uma invenção recente na história da humanidade”.
Vejamos o caso de quem é considerado por muitos, o maior cientista inglês de todos os tempos, Charles Darwin (1809-1882). Na sua obra prima publicada em 1859, “A origem das espécies por meio da seleção natural”, constava uma elaborada teoria que, pela primeira vez, separava a ciência da religião. Segundo Darwin, a diversidade da vida no planeta poderia ser explicada por meio de um processo de descendência por modificações, no qual a seleção natural seria seu principal mecanismo. De acordo com essa teoria, todos os seres vivos estariam interligados por um ancestral comum e, com o ser humano, não seria diferente (Bingo!). Assim, embora Darwin acreditasse que homens e macacos ocupam ramos diferentes de uma mesma árvore, os mesmos compartilhariam um ancestral comum.
Além dessas ideias revolucionárias, Darwin vinha de uma família liberal e antiescravagista, o que o impedia de diferenciar as pessoas segundo os critérios de raça e muito menos adotar convicções racistas. Inclusive, ao constatar a escravidão de perto no Brasil, Darwin deixou registrado em seu diário de bordo, em 1832, que “nunca mais voltaria a um país em que houvesse escravidão”. Segundo os autores Adrian Desmond e James Moore, no livro “A causa sagrada de Darwin” sua postura antiescravagista foi essencial na formulação de suas ideias evolutivas e, na inserção do homem “no mundo animal” (Viva Darwin!).
Ao mesmo tempo em que as ideias de Darwin o deixavam convicto de que não havia justificativa científica para a escravidão, mas sim para a emancipação, o ideal “liberal” e “democrático” da época exigia explicações científicas para justificar a escravidão e até a miséria social, em especial, após o início da revolução industrial. A obra de Darwin, considerada por muitos, o primeiro best-seller da literatura científica da idade moderna, teve uma influência profunda sobre as mais diferentes correntes de pensamento e ideologias da época como sobre Karl Marx que, acreditava que o livro continha as bases, em história natural, para a sua tese defendida no seu livro “O capital”. Ocorre que, com essa influência e aliada ao contexto da época, ganharam força o darwinismo social e a eugenia.
O darwinismo social baseava-se no conceito de seleção natural e o inseria na sociedade de maneira ideológica, deturpando a ideia de “sobrevivência do mais apto”, termo esse proposto por Hebert Spencer (1820-1903). Assim, as pessoas eram por natureza, desiguais, com “aptidões superiores” ou “inferiores”. A vida em sociedade era marcada por uma “luta natural” pela sobrevivência em que, os mais aptos venceriam, obtendo sucesso, riqueza e poder. Por outro lado, os mais fracos fracassariam e, portanto, deveriam morrer mais cedo sem deixar descendentes.
Já a Eugenia, que teve início (1883) com as ideias do primo de Darwin, Francis Galton (1822-1911), tinha como princípio o processo de reprodução seletiva com o intuito de “aperfeiçoamento das raças”. Esse processo baseava-se na formação de uma casta genética por meio do controle cientifico da procriação humana, onde os “menos aptos” seriam eliminados e assim, a evolução humana seria controlada. Isso sem considerar a justificativa religiosa para a eugenia “Tenho uma bela herança” (Salmo 16:6).
Infelizmente a má compreensão, a ignorância e a distorção de alguns conhecimentos científicos, permitiram a muitos desses deturpadores – como disse Darwin, “Selvagens Polidos” em referência aos ingleses escravagistas – que impusessem atrocidades a humanidade. Hitler e Mussolini que o digam, uma vez que ambos adotaram os princípios do “racismo científico” e “darwinismo social” em suas políticas de governo. Hitler implementou ainda, na prática, suas políticas de eugenia!
Os cientistas também não estão imunes às distorções de determinadas ideias científicas, até porque, alguns dos seus questionamentos são decorrentes dos seus preconceitos sociais (na verdade ninguém está imune a isso!). Veja o caso do americano James Watson (89 anos), um dos vencedores do Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina (1962) pela descoberta da estrutura do DNA, e que se aposentou do Laboratório Cold Spring Harbor, no qual trabalhou por quase 40 anos, após declarações racistas, ainda em 2008, de “ser pessimista sobre a África porque as políticas ocidentais para os países africanos eram erroneamente baseadas na presunção de que os negros seriam tão inteligentes quanto os brancos quando, na verdade “testes” sugerem o contrário”.
Vejamos também o caso do “Pai da taxonomia moderna” o sueco Carl Linnaeus. Na sua grande obra de classificação hierárquica dos seres vivos, o sistema da natureza (Systema Naturae), a espécie humanafoi – pela primeira vez – categorizada taxonomicamente. De acordo com a visão tipológica de Linnaeus, as “raças humanas” se enquadrariam em quatro tipos: Homo sapiens europaeus (Branco, sério e forte); Homo sapiens asiaticus (Amarelo, melancólico e avaro); Homo sapiens afer (Negro, impassível, preguiçoso); e o Homo sapiens americanos (Vermelho, mal-humorado e violento). É até difícil imaginar que algumas correntes de pensamento defendiam (e se duvidar ainda defendem!) que os trópicos e a nossa miscigenação, falando aqui do Brasil, justificavam nossas mazelas sociais.
Se Darwin já não tinha dúvidas, a era pós-genômica enterrou de vez a ideia de “genetização racial” (Viva Darwin mais uma vez!). Se Gilberto Freyre, em sua grande obra, Casa Grande & Senzala parte de argumentos econômicos para explicar a estrutura e a formação social do povo brasileiro, em especial a “especificidade de nossa escravidão”, a ciência parte de argumentos biológicos, físicos, químicos e filosóficos para desinventar o conceito de supremacia racial e suplantar as frágeis justificativas de certos grupos supremacistas, como os de Charlottesville.
Thiago Lustosa Jucá, Biólogo, Doutor em Bioquímica de Plantas pela UFC. Trabalha como Técnico Químico de Petróleo na Refinaria de Lubrificantes e Derivados do Nordeste, PETROBRÁS.
As afirmações e conceitos emitidos em artigos assinados são de absoluta responsabilidade dos seus autores, não expressando necessariamente a opinião do portal.
Thiago Jucá
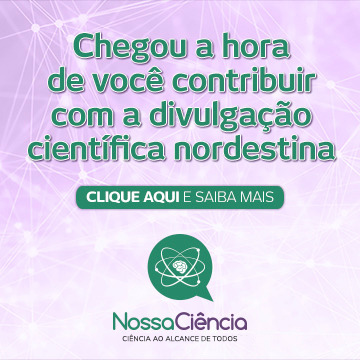







Deixe um comentário