É possível cicatrizar as feridas do racismo? Diversidades
 Foto: Tânia Rego - Agência Brasil.
Foto: Tânia Rego - Agência Brasil.
Pessoas racializadas carregam consigo marcas de múltiplas opressões. Buscar caminhos para abrandá-las é um desafio
Por Alice Andrade (Instagram: @andradealice_).
Para começar, devo fazer uma confissão: estive em frente a uma tela em branco por muitas horas antes de conseguir escrever este texto – o que me levou a duvidar se conseguiria. O contexto pandêmico, somado à tragédia nacional de autoritarismo e desigualdades crescentes, tem prejudicado a produtividade de muitas pessoas. Bloqueios criativos podem ser comuns a todos, todas e todes, mas no caso de indivíduos racializados, essas interdições são nascidas em algum lugar. Do espaço ocupado por mim – mulher negra, nordestina e filha da classe trabalhadora – nasceram do racismo e do sexismo, em grande parte.
Embora eu tenha narrado uma experiência pessoal, é recorrente ouvir colegas racializados/as/es compartilharem situações e pensamentos semelhantes. Estrela*, com quem dialoguei sobre o assunto, relatou que o maior desafio de ser uma mulher negra na universidade é precisar provar constantemente sua capacidade. “Ser boa não é o suficiente. De nós é cobrado sermos as melhores para alimentarmos discursos meritocráticos. Porém, se somos boas em nossos compromissos, não há reconhecimento. Às vezes acho que todos estão certos e não sou mesmo capaz”, explicou. Já para Lua*, a dificuldade esteve na relação com a linguagem. “Disseram: ‘seus textos não são acadêmicos, e sim militantes’. Contudo, neles falo de mim e da minha ancestralidade sob um olhar subjetivo. Ora, a academia não é espaço de luta também?”, questionou.
As vivências de Estrela, Lua e as minhas se misturam muitas vezes. Para Kilomba, a universidade é um espaço de ciência, mas para indivíduos negros abriga também a “v-i-o-l-ê-n-c-i-a” (2019, p. 50). O sentimento de inadequação sentido por negros e negras em lugares como a academia faz parte do contexto de sofrimento psíquico – e até mesmo corporal – vivenciado por pessoas negras, como nos alertou Frantz Fanon em Pele negra, máscaras brancas (2008).

Alice Andrade.
Sou de uma geração de mulheres negras que está se propondo a criar narrativas positivas sobre as questões raciais. Não se trata de negar as dores causadas pelo racismo, e sim de mostrar que a história negra no Brasil não se resume à escravização e somos morada de criatividade, imaginação e realização. É um movimento afim à descolonização do olhar para abrir fissuras na cadeia discursiva permeada por estereótipos discriminatórios.
Nas atividades desenvolvidas nos últimos meses, tento me somar a essa roda. Busco trabalhar minha autoestima em um caminho oposto ao ensinado a mim ao longo da vida, valorizando meus traços, minha ancestralidade e buscando compreender que tenho, sim, capacidade cognitiva para criar e materializar projetos. No entanto, por muitas vezes, ainda sinto o passo estancar e a mente travar. Com ou sem motivo direto, questionamentos a respeito da minha competência para ir adiante me paralisam e me fazem retroceder.
Sou doutoranda em Estudos da Mídia (PPgEM/UFRN) e estudo mídias negras e jornalismo antirracista. Durante a escrita da tese, reivindico o conceito de escrevivências como ato político dentro da academia e trago algumas de minhas memórias para o texto. Em uma reunião, minha querida orientadora, a professora Socorro Veloso – a quem profundamente agradeço por me ajudar a pensar nisso -, me questionou sobre a ausência na escrita das experiências positivas que vivi na universidade. Quando reli o texto, percebi que ela tinha toda a razão:
Está lá a ocasião na qual um professor branco me pedia para lavar sua louça com frequência. Está lá a aula na qual ouvimos “sonhos são apenas para doutores”. Está também o sofrimento por ter minha intelectualidade e ancestralidade questionadas. Está a fala de uma docente quando me disse ser certo eu não passar em um concurso porque troquei de orientação e mexi com “gente grande”.
Mas não estava meu primeiro e emocionante encontro com os escritos de Lélia González, Beatriz Nascimento ou Sueli Carneiro. Não escrevi sobre a rede de acolhimento formada com outras mulheres para que pudéssemos sair de um contexto de racismo e machismo institucionais. Não teci reflexões a respeito do grupo de estudos que me acolheu e revolucionou minha leitura sobre o mundo, o DesCom. Não contei quando fiquei emocionada ser ouvida por um auditório lotado pela primeira vez (e ao lado de outras colegas racializadas). Não pensei, ainda, em falar das vezes nas quais estudantes negros me disseram, após assistir minhas aulas, que sou uma inspiração.
Sim, houve dor na minha experiência na universidade e na de muitas outras pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+, integrantes de religiões não-cristãs e periféricas. Ainda há. Entretanto, também foram incontáveis as pessoas, ideias e oportunidades que nos fortalecem e ajudam a seguir. Então pergunto: as feridas causadas pelo racismo podem cicatrizar algum dia?
 Grada Kilomba (2019) responde que o colonialismo é uma ferida que sequer foi tratada, por isso ainda infecta e sangra. Nessa perspectiva, o racismo não é um problema pessoal, e sim um sistema estrutural e institucional criado pela branquitude e experienciado por negros e negras. No Brasil, temos 300 anos de escravização e 133 de abolição. É mais tempo de dominação que de liberdade. Se outrora nossos corpos eram acorrentados, atualmente são nossas mentes que lutam para romper os grilhões.
Grada Kilomba (2019) responde que o colonialismo é uma ferida que sequer foi tratada, por isso ainda infecta e sangra. Nessa perspectiva, o racismo não é um problema pessoal, e sim um sistema estrutural e institucional criado pela branquitude e experienciado por negros e negras. No Brasil, temos 300 anos de escravização e 133 de abolição. É mais tempo de dominação que de liberdade. Se outrora nossos corpos eram acorrentados, atualmente são nossas mentes que lutam para romper os grilhões.
Evocar as vivências positivas para criar caminhos outros não é possível sem aprender a conviver também com as dolorosas. Estas, quando conseguem transformar a raiva em mobilização e ação, podem contribuir para o surgimento de novas epistemes no universo acadêmico, nas quais é possível ocupar espaços que não os domésticos, sonhar sem ser doutor, ser intelectual mesmo narrando subjetividades e também construir pedagogias mais emancipatórias havendo ou não títulos e nomeações em concursos.
Ao me aproximar de quem acredita nesse projeto de mundo acadêmico livre, tenho aprendido sobre a potência do aquilombamento. Aquilombar-se é unir, vincular, partilhar, cuidar mutuamente. É estabelecer conexões genuínas, formar redes de apoio e transformar sentimento em palavra compartilhada. Essas são algumas das ações que tenho tomado junto a uma coletividade em direção à cura psíquica de um adoecimento causado pela realidade violenta do racismo.
Iniciei este texto com uma confissão e termino com outra: se é possível ver cicatrizar as feridas do racismo e da colonialidade, não sei. O processo de busca por essa resposta ainda é desafio para muita gente. Enquanto me somo a essa procura de tantos, sigo aprendendo a perder o medo de dizer minhas palavras – e de que elas nunca sejam ouvidas. Por agora, enquanto faço o esforço de olhar para as minhas experiências por múltiplos ângulos além dos quais a dor me mostra, aquilombar e esperançar são palavras novas que compõem meu pouco “refinado”, “objetivo” e “neutro” vocabulário acadêmico.
* Os nomes citados foram substituídos por pseudônimos.
Referências:
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
KILOMBA, GRADA. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019.
 A coluna Diversidades é quinzenal, publicada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é quinzenal, publicada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Pela garantia do direito de dizer nossa palavra
“Epistemologias Subalternas e Comunicação – desCom é um grupo de estudos e projeto de pesquisa do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
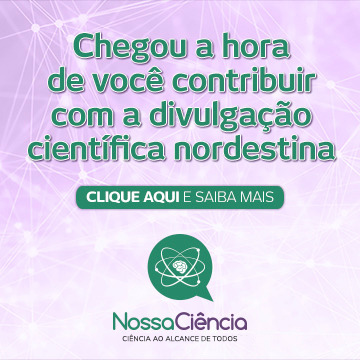







Deixe um comentário