Pela garantia do direito de dizer a nossa palavra Diversidades

Pesquisadora que se descobriu indígena ao longo de seu doutorado reconstrói seu processo de ruptura das correntes disciplinares da colonialidade acadêmica e de empoderamento intelectual e pessoal
Por Andrielle Mendes* (Instagram: @dielymendes).
Um mês atrás foi minha banca de qualificação. Pude, enfim, apresentar as considerações parciais acerca da pesquisa que realizo desde janeiro de 2020 no Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo enfoque são as estratégias midiático-comunicacionais acionadas por escritoras indígenas brasileiras dentro daquilo que compreendo como descolonização do imaginário.
Finalizar o texto que apresentei na banca foi um dos maiores desafios da minha vida acadêmica nos últimos quatro anos. Embora os dados já estivessem todos ali, à mão, duvidei de minha capacidade de realizar as análises, porque durante os primeiros anos de doutorado sofri muitos episódios de violência psicológica e moral, que minaram meu poder de teorizar. Como ressalta Grada Kilomba, a universidade também é um lugar de v-i-o-l-ê-n-c-i-a. Disso, acredito que jamais esquecerei, embora eu saiba que a universidade também é lugar de resistência às tentativas de subjugação.
Foi muito difícil articular estratégias de fuga e resistência, mas aos poucos eu e outras pesquisadoras fomos criando um espaço seguro – no sentido atribuído por Patrícia Hill Collins -, onde podíamos exercitar o direito de dizer as nossas palavras. Foi assim que aos poucos pude recuperar minha voz, enquanto mulher racializada numa instituição de ensino superior gerida por pessoas não racializadas.

Andrielle Mendes – Foto Arquivo Pessoal.
No fim de julho, consegui, enfim, apresentar meus primeiros exercícios imaginativos acerca do tema que pesquiso e fui incentivada a aprofundar as considerações que venho tecendo desde que pude pensar os meus pensamentos. Outras reflexões oriundas da pesquisa foram apresentadas recentemente no Congresso promovido pela Compós e dos professores presentes ouvi a mesma recomendação: continuar.
Custei, mas entendi que é útil reconhecer nossas vozes e nossa intelectualidade enquanto ferramentas de justiça, porque o resgate de nossa autonomia e humanidade (enquanto intelectuais negras e indígenas) é, em última análise, uma forma de reconstituição da humanidade de todas as pessoas, como afirma Winnie Bueno, nas conclusões do livro Imagens de controle: Um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins.
Este texto – o meu último na coluna este ano, pois estou me afastando para me dedicar integralmente à finalização da tese – tem dois objetivos. O primeiro deles é dizer que nós, orientandos e orientandas, podemos criar nossos espaços seguros dentro das instituições que ocupamos. O segundo objetivo é compartilhar com vocês trechos da carta, que entreguei no programa de pós-graduação por ocasião da mudança de orientação, no meio do doutorado. A elaboração dessa carta fez toda a diferença para que eu pudesse chegar “sã e salva” na qualificação.
Continuo acreditando na formação de nossos quilombos acadêmicos, na construção de nossos tapiris intelectuais (abrigos temporários indígenas), onde podemos nos unir e reunir forças e recursos, e ensaiar a nossa emancipação. Deixo com vocês a minha carta (de alforria) e meus votos de liberdade. Instituições de ensino superior menos coloniais e mais diversas não são um sonho impossível.

Descolonizar a comunicação passa pela ocupação dos espaços acadêmicos pelos corpos e as vozes que foram excluídos deles sistematicamente – Foto Lutchenca Medeiros.
(Carta[1] apresentada junto ao pedido de mudança da orientação anterior, em junho de 2019).
A palavra abertura adquire um sentido especial para o campo da Comunicação, pois, segundo Ciro Marcondes Filho, em O rosto e a máquina, para podermos praticar a comunicação – que se distingue da sinalização e da informação – precisamos estar abertos ao outro, ao mundo, ao estranho; caso contrário, continuaremos fechados, incorporando apenas as informações que nos interessam, que reforçam nossa repetição, nosso mesmismo, nossa inalterabilidade. Sem abertura ao outro, sem reciprocidade, relações de igualdade e estima pelo saber do outro não há comunicação, conforme Paulo Freire, patrono da educação e incentivador de uma prática educacional emancipatória.
Os professores, conforme recomendação de José Luiz Braga, professor do PPG em Ciências da Comunicação da Unisinos, deveriam evitar inculcar suas preferências teórico-metodológicas nos estudantes, o que corresponderia a ficar indiferente às necessidades específicas, certamente diferenciadas, de um grande número de mestrandos e doutorandos. Braga reconhece que as preferências teórico-metodológicas do professor – e sobretudo da linha de pesquisa – têm um papel a cumprir, mas alerta que tais preferências não devem “se abater” sobre os estudantes, nem de modo autoritário nem em desconsideração de necessidades específicas de sua pesquisa.
Falta-me, na condição em que me encontro, abertura para expressar o meu modo de olhar/narrar o mundo e de exercitar a minha escrita, que carrega em si marcas de oralidade advindas da tradição das minhas ancestrais, contadoras de histórias, da minha experiência enquanto repórter/redatora (com 13 prêmios de jornalismo locais, regionais e nacionais em cinco anos de redação) e da minha identificação com a epistemologia feminista (e o pensamento descolonial, acréscimo posterior), caracterizada por uma “postura insurgente que exigiu das teóricas e ativistas dos movimentos feministas a criação de uma linguagem própria para fazer ciência, pois a que havia disponível as apagava como seres históricos e produtores de conhecimento”, conforme Larissa Pelúcio, professora de Estudos de Gênero, Sexualidade e Teorias Feministas no Departamento de Ciências Humanas na Universidade Estadual Paulista (UNESP/ FAAC).

Espaços como o grupo de estudos Descolonizando a Comunicação (Descom) mostram que uma universidade mais diversa é um sonho possível – Foto Lutchenca Medeiros.
A minha escrita é o que eu tenho de mais original em mim. “Refinar” a minha escrita seria negar o lugar de onde eu vim, quem eu sou, e aquilo em que acredito. O psiquiatra, filósofo e ensaísta francês, de ascendência francesa e africana, Frantz Fanon é um dos autores que advoga pela preservação da originalidade cultural. Sepultá-la, alerta Fanon, produz um complexo de inferioridade tal qual o observado durante a colonização, pois o povo colonizado é um povo “no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural”. No livro Peles negras, Máscaras brancas, Fanon escreve sobre o sofrimento psíquico causado pela imposição de uma discriminação que faz dele um colonizado, do qual é extirpado qualquer valor e qualquer originalidade.
Uma originalidade, que é traduzida por Alioune Diop, autor de La Philosophie bantoue, como juventude da alma e alegria de viver, ambas fundamentais para a escrita de uma tese vista como “ciência e arte dialogando concretamente no dia a dia de cada página que se volta nos fichamentos bibliográficos, em todo conhecimento compilado na tradução de uma hipótese, na ousadia de uma montagem metodológica, na humildade de quem desconfia do que descobriu, na segurança de poder ir além”, segundo Lucrécia D’Aléssio Ferrara, pesquisadora de epistemologia da comunicação e uma das maiores teóricas da área no Brasil.
Antes, eu pensava que minha escrita me fazia “ser menos”. Hoje, me pergunto, se não é o oposto… Se a minha escrita não me faz “ser mais”, no sentido freireano de emancipação. Anima-me perceber que esta é uma característica elogiada por pesquisadores dentro e fora desta universidade. O filósofo alemão Ernest Cassirer, por exemplo, afirma que “os problemas fundamentais da cultura humana têm um interesse humano geral, e devem ser tornados acessíveis para o público geral”, enquanto Peter L. Berger, professor de Sociologia na Rutgers University, e Thomas Luckmann, professor de Sociologia na Universidade de Frankfurt, escrevem que a linguagem comum de que dispomos para a objetivação de nossas experiências funda-se na vida cotidiana.
Diante da falta de abertura do orientador para estas questões, que envolvem a minha autodeterminação e a minha autonomia, e de dificuldades de comunicação, decidi, por iniciativa própria, solicitar uma nova orientadora/um novo orientador para a minha pesquisa. Aspiro a uma nova experiência de orientação, porque a atual me é insatisfatória. Asfixia-me perceber que, após quase 10 anos de orientação, não consegui ver assegurado o meu direito de escolher como olhar, narrar e me relacionar com o mundo. Lembro aqui Frantz Fanon, quando este escreve: “devo me libertar daquilo que me sufoca, porque realmente não posso respirar”. Eu não saberia como justificar melhor a minha aspiração.
*Andrielle Mendes é pesquisadora das imagens e dos imaginários midiáticos e doutoranda do Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia (PPGEM/UFRN), com enfoque em estudos de gênero e étnico-raciais.
Referência:
[1] Dias após entregar a carta na secretaria do Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia, soube, através do pajé do povo Potiguara no RN, que a minha “ascendência indígena é forte”. Informação que foi comprovada meses depois, quando descobri, por meio do levantamento de documentos, que meu avô materno nascera em território ancestral Potiguara, na Paraíba. Depois desse encontro, frases como “Meus orientandos não podem ser roubados, pois estão acorrentados pela perna à minha mesa”; “Andrielle é preguiçosa, não trabalha!”; “Você não pode sonhar, pois não é Doutora” adquiriram outra conotação, em especial, a última frase, já que o sonho está no centro da tradição, conhecimento e sensibilidade indígenas. Sou uma intelectual parda, filha de mãe negra e avô preto, de origem indígena.
 A coluna Diversidades é quinzenal, publicada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
A coluna Diversidades é quinzenal, publicada às segundas-feiras. Leia, opine, compartilhe e curta. Use a hashtag #Diversidades. Estamos no Facebook (nossaciencia), Twitter (nossaciencia), Instagram (nossaciencia) e temos email (redacao@nossaciencia.com.br).
Leia a coluna anterior: Do colonial ao virtual: As infinitas barreiras que o racismo ultrapassa
“Epistemologias Subalternas e Comunicação – desCom é um grupo de estudos e projeto de pesquisa do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
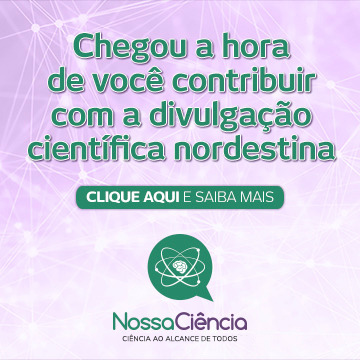







Deixe um comentário