No colo do centrão Artigos
 Foto: Marcos Correa - PR - Fotos Públicas
Foto: Marcos Correa - PR - Fotos Públicas
O governo brasileiro está migrando do presidencialismo de confrontação ao presidencialismo de coalizão?
(Homero Costa)
Durante mais de 30 anos, que corresponde à transição da ditadura militar para os governos civis, foi articulado um arranjo institucional cujo objetivo era o de garantir a governabilidade e que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão.
O termo foi usado pioneiramente pelo cientista político Sergio Abranches no artigo Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. (Dados, Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, 1988) e a compreensão era a de que o Brasil, diferente de outros países que passavam por processos de transição, combinava o sistema presidencialismo (chamado por ele de presidencialismo imperial) com representação proporcional (de listas abertas) e cujas regras eleitorais facilitava a criação de partidos, gerando assim um multipartidarismo, ao contrário do bipartidarismo que caracterizou o sistema partidário durante a ditadura (1965-1979): “O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o presidencialismo imperial, organiza o Executivo com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade concreta brasileira chamarei, à falta de melhor nome, presidencialismo de coalizão”.
As coalizões se tornaram necessárias como imperativos de governabilidade porque os partidos pelos quais os presidentes foram eleitos, desde 1989, eram minoritários nas duas Casas Legislativas (Câmara e Senado) e precisavam, através de alianças eleitorais antes e também pós eleições, assegurar maioria e assim aprovar seus projetos no Parlamento.
De 1989 e 2016 houve dois impeachment, de Fernando Collor em 1992 e de Dilma Rousseff, em 2016. Ambos, ao perderem maioria no Congresso Nacional, somada a outros fatores (participação decisiva da grande mídia para a construção dos respectivos cenários, associado a uma intensa mobilização de setores da sociedade etc.), pederam a condição de se manterem no cargo.
Com a eleição de Jair Bolsonaro, em outurbro de 2018, e o início do seu governo, em janeiro de 2019, esse arranjo institucional deixou de existir, pelo menos da forma como foi concebido, ou seja, do presidencialismo de coalizão, substituido pelo que pode ser qualificado como presidencialismo de colisão ou de confrontação.
Uma das críticas ao modelo anterior era a grande influência do Poder Legislativo (dos partidos e parlamentares que compunham a coalizão) na gerência do Estado, ocupando cargos na burocracia estatal, como parte do processo de negociações para a sustentação dos governos, sem qualquer princípio programático e/ou ideológico.
E como um dos seus efeitos, a imprevisibilidade e instabilidade política em função da fragmentação partidária e ausência de partidos fortes e disciplinados (a maioria, são partidos fisiológicos e/ou meras legendas de aluguel, controlados pelo que se pode chamar de oligarquias partidárias), enfim, um arranjo institucional que se construiu sem regras fixas e confiáveis.
Ressalte-se que o sistema partidário brasileiro é um dos mais fragmentados do mundo. Em 2018 foram eleitos representantes de 30 partidos para o Congresso Nacional (1994 eram 21 partidos; em 1998, 20; em 2002, 19; em 2006, 21; em 2010, 22 e em 2014, 28). Isso significa que para compor maioria, é necessário um processo de negociação por parte do Executivo, com base no que se conhece desse processo (trocas de favores, cargos etc.).
Uma das promessas de campanha do governo eleito era justamente a recusa em governar de acordo com o modelo até então em vigor, construído na base do “toma lá, dá cá”, considerado como espúrio, com suas (inevitáveis) práticas de clientelismo e corrupção.
A eleição de Bolsonaro se deu em meio a uma onda de polarização, desencanto com a política (e com os políticos), com um cultivo hábil do medo, o uso intensivo de fakes news nas redes sociais, com milhões de perfis falsos, robôs etc., intensa e eficiente propaganda de demonização de Lula e do PT, com a necessária e inestimável contribuição da mídia hegemônica para criar o cenário de construção do “mito”, e resultou numa forma de governar que coloca no centro das relações políticas um inimigo a ser combatido e a construção de uma “guerra” permanente, dentro de fora do Congresso Nacional, e em defesa de pautas autoritárias, como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, evidenciando o desprezo às instituições, pondo em risco a própria democracia.
A questão relevante é: como governar sem articulação com o Congresso Nacional? Para aprovar, por exemplo, uma emenda à Constituição (PEC) é necessário o apoio de pelo menos 60% do parlamento, mas o que se constatou ao longo de um ano e quatro meses do governo Bolsonaro é a inabilidade na forma como conduziu as relações com o Congresso. Não mais coalizões que foram fundamentais para garantir a governabilidade nos governos anteriores, (com exceção dos de Fernando Collor e o segundo governo de Dilma Rousseff), mas permanentes atritos e desqualificação do parlamento.
E o problema, ao não querer negociar com o Congresso, como argumenta Abranches é a possibilidade de ser vítima de retaliações: “Em confronto com instituições e práticas que garantiram a governabilidade na redemocratização, o presidente segue o arriscado caminho limítrofe ao autoritarismo”. Em vez de conciliação e composição no Parlamento houve “uma ruidosa e desajuizada escalada de hostilidades entre o Planalto e o Congresso”.
Mesmo considerando que a Constituição de 1988 aumentou as prerrogativas legislativas do Executivo, prevendo grandes poderes ao presidente (mas não a ponto de Ele ser a Constituição…), como a iniciativa legislativa preferencial, de determinar a tramitação em urgência de projetos, legislar por decretos e Medidas Provisórias, o poder de veto etc., ao optar pela estratégia do confronto e recusar a formação de uma ampla coalizão de apoio, ou seja “o enquadramento institucional do presidencialismo de coalizão”, teve sucessivas derrotas no parlamento.
Entre outras derrotas, podem ser citadas o cancelamento dos decretos sobre posse e porte de armas (a aprovação de um projeto que revogou o decreto presidencial, que flexibilizava a posse e o porte de armas); a PEC do Orçamento Impositivo para emendas de bancada (o governo passou a ser obrigado a executar todas as emendas feitas por bancadas no Congresso, antes apenas as emendas individuais eram de execução obrigatória) e mesmo aprovando a Reforma da Previdência, houve também derrotas ao projeto do governo que pretendia economizar mais de R$ 1,1 trilhão, diminuindo para em torno de R$ 800 milhões. Foram aprovadas também mudanças em relação à proposta do governo quanto ao Benefício de Prestação Continuada (A Constituição de 1988, no artigo 203, estabelece o pagamento de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, e o governo queria diminuir para R$ 400,00 e não conseguiu), assim como foi derrotado também em relação à aposentadoria rural. A proposta do governo da idade mínima para a aposentadoria rural era de 60 anos tanto para homens como mulheres (aumentava a das mulheres em 5 anos), mas não foi aprovada pelo Congresso, mantendo o que estabelece a legislação que a disciplina.
Passados um ano e quatro meses de governo e mesmo depois de um discurso em que afirmava que não iria negociar, o fato é que o governo tem negociado com os partidos do chamado Centrão (entre outros, PL, Progressistas, PSD, MDB, PSC, PTB, DEM, PRB, SD, PP e parte do Pros) que são em torno de 200 parlamentares e expressão maior do fisiologismo no Congresso e que tem como alguns dos articuladores pelos partidos condenados no mensalão e envolvidos em outros escândalos, como Roberto Jefferson e Waldemar da Costa Neto. O objetivo é claro: garantir uma base de apoio no Congresso Nacional e impedir um possível processo do impeachment e também como parte das articulações para a eleição da presidência da Câmara dos Deputados.
Segundo a revista eletrônica Crusoé “Para ampliar sua base no Congresso Nacional e conquistar o apoio de partidos do Centrão, Jair Bolsonaro colocou pelo menos R$ 53 bilhões em jogo (…) Esse é o orçamento de todos os órgãos em negociação com legendas historicamente associadas ao fisiologismo, à velha política e, não raro, aos malfeitos”. Ou seja, ao contrário do que se afirma em discursos públicos, que rechaça o que chama de ‘velha política’, que ajudou a elegê-lo, o presidente negocia cargos com partidos tradicionalmente fisiológicos e mesmo afirmando, como o fez no dia 19 de abril num protesto em Brasília que pedia intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal que não iria “negociar nada”.
O fato é que compor maioria exige negociações e habilidade política e, conseguindo, ainda tem o risco de ficar refém do parlamento, como ocorreu com de Michel Temer, que por duas vezes impediu que processo de cassação fosse barrado pelo Congresso, negociando cargos etc., com diversos partidos. E ainda no início, ou seja, sem que tenha se consolidado e em processo de negociações de cargos na burocracia estatal, como as indicações iniciais dos partidos para o Dnocs, Sudene, entre outros, já é alvo de críticas e suspeições, como expressa a matéria publicada no Jornal de Brasília no dia 7 de maio de 2020 por Lucas Valença, informando que o novo secretário Nacional de Mobilidade responde a processo por improbidade administrativa.
Um fator que contribui para as dificuldades de construção de uma base consistente de apoio é não apenas a diversidade de interesses dos dirigentes dos partidos para suas indicações, mas um presidente com mentalidade autoritária, politicamente fraco, com comportamentos erráticos, em permanente confrontos com o Congresso Nacional, se dedicando àquilo que Antonio Gramsci chamou com muita propriedade de pequena política, que aliás caracterizou sua prática parlamentar com deputado por 28 anos, ou seja, ausente dos grandes debates nacionais, e nada do que poderia ser chamado da macropolítica ou grande política, que trata de questões sistêmicas e relevantes.
A aproximação com o Centrão é parte de uma possível mudança da confrontação, da colisão, para a coalizão? Houve tentativas anteriores. Uma matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo do dia 1 julho de 2019 Contra mote de campanha, Bolsonaro mantém troca de favores com Congresso, assinada por Ranier Bragon, afirma que se “o presidente foi eleito impulsionado pela onda antissistema e com a promessa de acabar com o chamado ‘toma lá dá cá’, o meio de obtenção de governabilidade adotado até então, os primeiros seis meses de gestão mostram que, apesar de algumas mudanças, o modelo continua sendo praticado. O governo abre o cofre em busca do apoio que necessita”.
No entanto, como se sabe, não garantiu a formação de coalizão consistente, com o seguido e permanente processo de desconfiança mútua, culminando com o apoio a pautas antidemocráticas como fechamento do próprio Congresso Nacional (além do Supremo Tribunal Federal e o retorno à ditadura).
As iniciativas de se compor com o congresso com base em negociações é importante para qualquer governo. Confrontos, como tem acontecido até agora, podem gerar uma paralisia decisória e uma instabilidade política, com desdobramentos imprevisíveis.
Como ainda não existe a consolidação desse processo, resta esperar pelos seus resultados. O fato é que com partidos do chamado centrão, conservadores e fisiológicos, sem consistência programática e ideológica, não deverá constituir propriamente uma base de apoio sólida, mas circunstancial e embora sinalize para o retorno ao modelo anterior, do presidencialismo de coalizão, tem a imprevisibilidade como um dos seus componentes.
Mas para os defensores da democracia, enquanto um governo de extrema direita se articula no Congresso com partidos fisiológicos usando das mesmas práticas que criticava e num momento de fragilidade para barrar investigações em curso e evitar o impeachment e especialmente um cenário de expectativas sombrias para a democracia, é fundamental, não um presidencialismo de coalizão nos termos que está sendo negociado, mas uma ampla frente democrática, dentro mas particularmente fora do Congresso Nacional, contra os que são contra a democracia e se contrapor ao avanço da barbárie, aos retrocessos, político, social, econômico e institucional.
Antes que seja tarde demais.
Leia outros artigos sobre o mesmo tema:
Presidencialismo de coalizão ou de confrontação?
A necropolítica como forma de subjugar a vida ao poder da morte
Homero de Oliveira Costa
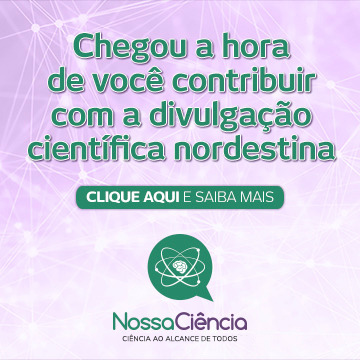







Deixe um comentário